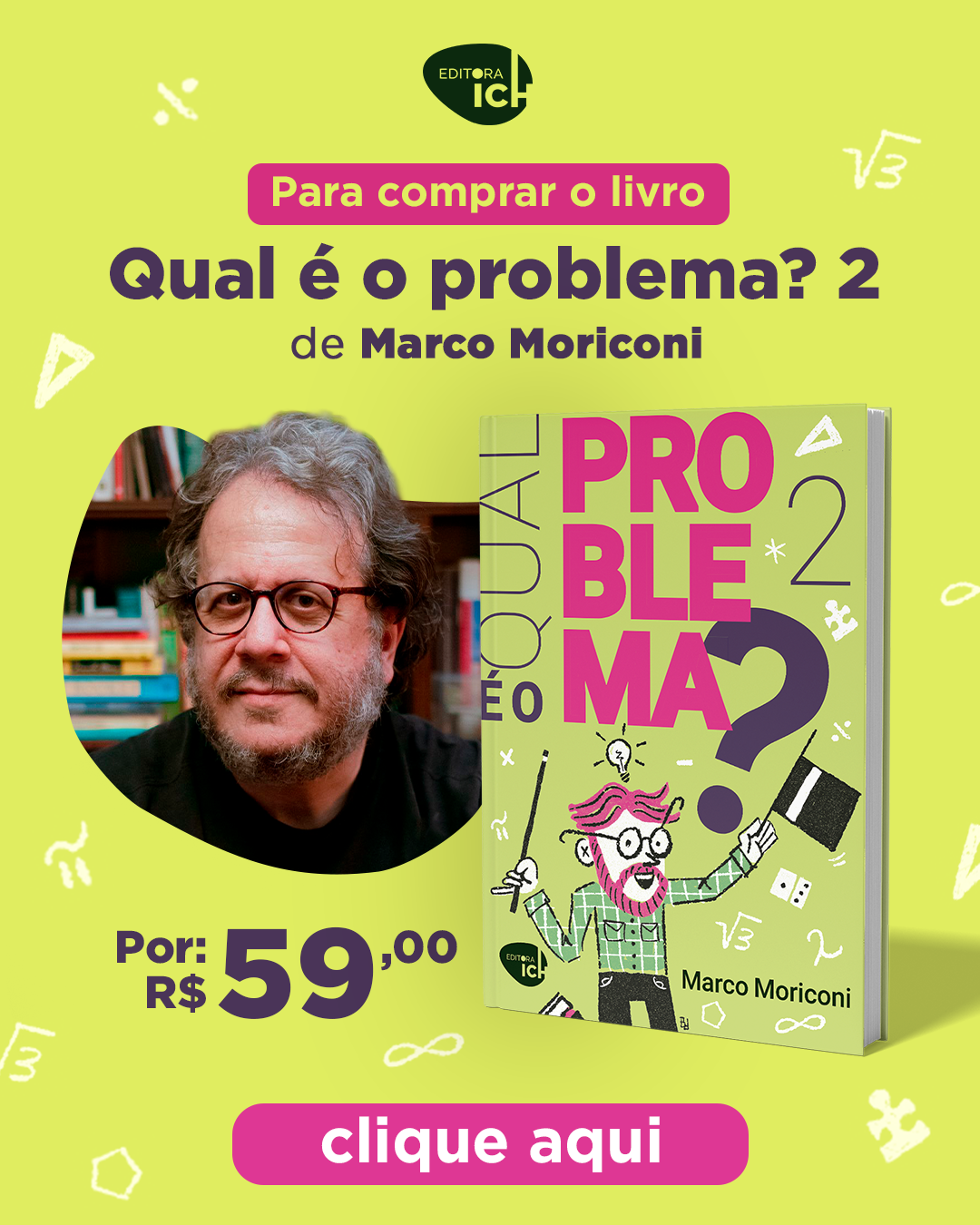A banda brasileira Paralamas do Sucesso, em sua bela canção ‘Tendo a Lua’, argumenta que o céu de Ícaro tem mais poesia que o de Galileu. Com duas filhas adolescentes em casa, essa questão, por vezes, adquiria premência nos longos cafés da manhã aos sábados. Supondo a possibilidade de quantificar o quanto de poesia determinado lugar tem, será que aquela afirmação é óbvia?
Como leigo em poesia, nem tenho certeza de que o ‘poético’ possa ser bem definido, mas suponho que todos tenham um sentimento do que é poético.
O céu de Ícaro é o céu dos mitos e do trágico. Ícaro é filho de Dédalo, que, entre outras coisas, como o labirinto do Minotauro, fez asas de penas e cera para voar. Ícaro as foi testar. Desdenhou da recomendação paterna em sua ânsia juvenil de explorar o desconhecido e se aproximou em demasia do Sol. O calor derreteu a cera, e, ao final de sua provocação desmedida, ele se espatifou no mar, morrendo. O final trágico de Ícaro, sua juventude ao se jogar ao Sol, sua insolência parecem-me poéticos.
O céu do físico e astrônomo italiano Galileu Galilei (1564-1642) é aquele no qual o cientista, com telescópios e satélites, observa o espetáculo das leis da física que regem o destino igualmente trágico do universo, cujo parto de si mesmo – conjuntamente com o nascimento do espaço e do tempo – se dá em uma explosão cujos rastros conseguimos estudar por meio de seu ‘ruído’ tênue remanescente (a chamada radiação cósmica de fundo), da formação dos primeiros núcleos atômicos e da alteração da luz emitida pelas galáxias à medida que elas se afastam de nós (o desvio para o vermelho).
Com precisão cada vez maior, conseguimos mapear a história dessa explosão primordial, embora, com isso, novas questões surjam, e nossa ignorância sobre o que constitui grande parte do universo tenha aumentado com a descoberta da matéria escura e a energia escura, ambas de natureza ainda misteriosa para a ciência.

- Remanescente da supernova observada por Tycho Brahe em 1572 fotografado pelo observatório de raios-X Chandra. (foto: Nasa/CXC/SAO)
O céu de Galileu é jovem: começou a se delinear cerca de 500 anos atrás. Já em 1572, o astrônomo dinamarquês Tycho Brahe (1546-161), ao observar, na constelação de Cassiopeia, uma supernova (explosão de uma estrela massiva e moribunda), perturbava, de forma irreversível, a visão clássica do céu como um lugar imutável.
Galileu, apontando sua luneta para Júpiter e descobrindo o movimento elíptico de seus muitos satélites, abalou os fundamentos do cosmo aristotélico-ptolomaico, longamente cristalizado na Idade Média.
Aquele pequeno sistema, movimentando-se com as leis descobertas pelo astrônomo alemão Johannes Kepler (1571-1630), tornava o céu mais complexo e mais interessante do que se conhecia à época: nem todas as órbitas se davam em torno da Terra.
O céu que Galileu descortinou não é o céu plácido dos namorados. É um céu catastrófico, violento, onde as leis da física são levadas a extremos. As estrelas são palco de uma luta intensa entre a força de autogravitação, que tende a comprimi-las, e as reações nucleares em seu interior, que equilibram a gravitação.
Quando o combustível nuclear se esgota, algumas escurecem lentamente, e outras explodem em morte violenta. Dependendo da massa da estrela, a explosão que a aniquila deixa um cadáver distinto. As mais massivas terminam como buracos negros ou estrelas de nêutrons – uma colher de chá da massa destas últimas pesaria mais do que um bilhão de toneladas. As menos massivas acabam como estrelas diminutas, anãs brancas.
Por muito tempo, buracos negros foram mera curiosidade matemática que poucos acreditavam corresponder a um sistema físico minimamente real. Hoje, os astrônomos têm certeza de que, no centro da maioria das galáxias, habita um buraco negro supermassivo, objeto que suga toda a massa e a luz em torno dele, onde o tempo literalmente para e onde um infeliz astronauta seria rasgado em pedaços.
Temos certeza de que um buraco negro habita o centro aparentemente calmo de nossa galáxia. Sabemos até inferir sua massa: 3,7 milhões a do Sol. Porém, núcleos de galáxias mais tormentosos expelem jatos gigantescos de matéria e radiação, resultados da dinâmica dos buracos negros ali instalados.
“Mas que céu pode satisfazer teu sonho de céu?”, perguntava o poeta recifense Manuel Bandeira (1886-1968). O céu de Galileu, com seus fenômenos catastróficos, de tão desmesurado, dificilmente poderia ser sonhado por um poeta. Mas poucos negariam a intensa poesia dos mundos em convulsão que o habitam.
João Torres de Mello Neto
Instituto de Física, Universidade Federal do Rio de Janeiro
joaodemelloneto@cienciahoje.org.br