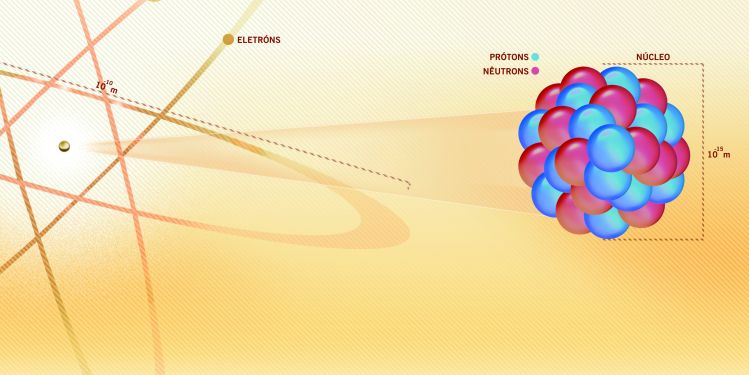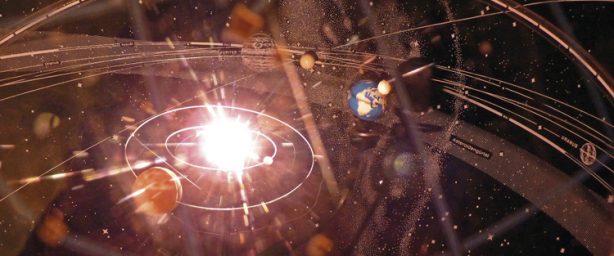Em 1955, 10 anos após o término da Segunda Guerra Mundial, Primo Levi (1919-1987) afirmou ser triste constatar que o tema dos campos de extermínio, longe de ter ingressado na história, seguia no mais completo esquecimento. Talvez o escritor italiano ficasse surpreso ao saber que, sete décadas depois, esse cenário se transformaria tanto. De fato, por muito tempo, essa memória permaneceu subterrânea, mantida em conversas entre amigos e familiares dos sobreviventes do Holocausto, ou ainda em cerimônias restritas. Ao tentarem falar sobre sua experiência, relatavam o pouco desejo de escuta, muitas vezes acompanhado pela desconfiança sobre sua sobrevivência em condições tão adversas.
A relativa invisibilidade dessas narrativas em alguma medida expressava ainda a própria forma como se pensava a Segunda Guerra Mundial – como uma guerra global que havia assassinado entre 50 a 60 milhões de pessoas, sendo suas vítimas vistas em termos universalistas, ou seja, como prisioneiros políticos, trabalhadores escravos e civis de diferentes nacionalidades. Ainda que se falasse sobre o destino dos judeus, os termos ‘Holocausto’ e ‘sobrevivente’ pouco circulavam, sendo comum referir-se aos imigrantes recém-chegados como ‘refugiados’.
O que se constata hoje, no entanto, é um cenário bastante distinto. O Holocausto, entendido como o extermínio de 6 milhões de judeus e outros grupos perseguidos pela política nazista, é abordado em inúmeras instituições de memória nos países europeus e onde os sobreviventes se fixaram posteriormente. Isso também ocorre na literatura, na produção acadêmica, em projetos de história oral/visual e nos meios de comunicação. Filmes como Nuit et Brouillard (Alain Resnais, 1955), Shoah (Claude Lanzmann, 1985) e A Lista de Schindler (Steven Spielberg, 1993) são marcos importantes, sendo que a partir deste último proliferaram produções de diferentes gêneros e nacionalidades, além de diversos produtos para TV e internet.
Foge ao nosso alcance explorar como se deu o deslocamento de um contexto em que o silêncio preponderava para um cenário de tamanha visibilidade. Queremos, em vez disso, trazer algumas reflexões sobre os processos de construção social da memória do Holocausto na contemporaneidade. Para tal, a USC Fundação Shoah – O Instituto de História Visual e Educação, na Califórnia (EUA), representa um rico exemplo que nos permite pensar nas transformações, nos desafios e impasses que essa memória veio sofrendo nos últimos anos.
O início da Fundação Shoah
Criada sem fins lucrativos pelo cineasta norte-americano Steven Spielberg em 1994, a origem da Fundação Shoah estava associada à filmagem de A Lista de Schindler na Polônia, em 1992. Em entrevistas, Spielberg alegou que o contato com sobreviventes o teria impactado fortemente, motivando a criação de uma organização dedicada a registrar suas experiências a partir de sua própria voz – daí a importância da noção de ‘testemunho’.
É nesse contexto que surge a Fundação da História Visual dos Sobreviventes da Shoah (Holocausto), que se dedicava a entrevistar judeus que passaram por diferentes experiências (guetos, campos de trabalho, concentração ou extermínio, esconderijos, falsas identidades, partisans ou guerrilhas), ou qualquer pessoa perseguida pela política nazista em território ocupado pela Alemanha entre 1933-1945, incluindo ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová e prisioneiros políticos. Também foram entrevistados participantes de tribunais de guerra, pessoas que ajudaram a salvar grupos perseguidos e membros dos exércitos aliados que libertaram os campos ao final da guerra.
As entrevistas eram gravadas em vídeo e focalizavam a experiência antes, durante e depois do conflito. Entre 1994 e 1999, foi constituído um arquivo de mais de 50 mil depoimentos coletados em cerca de 60 países pelo mundo, em mais de 30 idiomas.
O surgimento dessa organização nos anos 1990 certamente não foi um evento aleatório. Se por um lado dialogava com o contexto do multiculturalismo norte-americano, em que os grupos étnicos explicitavam sua identidade particularista no espaço público, por outro se relacionava também com as mudanças de enquadramento sobre a guerra. A perseguição nazista aos judeus passou a ser vista então como um evento à parte, com o uso mais intensivo do termo Holocausto.
O escritor romeno Elie Wiesel, prêmio Nobel da Paz em 1986, foi um ator de destaque nesse processo, ao enfatizar a importância de o sobrevivente “não se envergonhar de ter sobrevivido” e propor pensar o Holocausto como um momento importante da história. Observa-se a emergência de uma identidade específica, o ‘sobrevivente’, categoria que demarcava um lugar social positivamente valorado.
Alguns sobreviventes relatam o que descrevem como o “fascínio” que as pessoas passaram a ter ao escutá-los, o que contrasta com a experiência anteriormente caracterizada por acusações e silenciamento. Se antes a memória da guerra era prioritariamente marcada pelos perpetradores (nazistas) e pelas vítimas (os mortos), colocava-se a partir de então o protagonismo de outro par: o salvador-sobrevivente.
Não por acaso o industrial alemão Oskar Schindler (1908-1974) – que teria salvado 1.200 judeus do extermínio – foi o personagem cuja trajetória deflagrou esse processo de memória, e se observa o aumento do interesse sobre indivíduos que ajudaram a salvar pessoas do nazismo.
Junto a isso, conferia aos sobreviventes um reconhecimento e uma visibilidade até então tímidos, como atesta o comentário de um senhor sobre o trabalho da Fundação Shoah: “Finalmente se lembraram de nós, que sobrevivemos”.
Outro ponto importante ligado ao surgimento dessa organização refere-se às novas práticas de memória, ditadas não apenas pelos contatos interpessoais, mas também intimamente articuladas aos meios de comunicação, que aparecem celebrados como um poderoso instrumento capaz de realizar a ligação entre passado, presente e futuro. Esse novo registro também acabou por contribuir para instituir uma nova imagem dos sobreviventes. As fotografias que se notabilizaram a partir da abertura dos campos revelavam muitas vezes seres esquálidos, parecendo estar a meio caminho entre os vivos e mortos. Elas, no entanto, passaram a conviver com a figura de senhores idosos, com rostos corados, roupas formais, mostrando em seus lares como haviam reconstruído suas vidas. Nesse novo registro, o passado era evocado para ser submetido ao presente, trazendo uma nova possibilidade de entendimento sobre o evento e uma nova forma de autoconsciência aos envolvidos.
Pontos de tensão
É importante destacar que nenhum empreendimento de memória se faz sem tensões. As representações sobre o passado, construídas em diálogo com as questões do presente, se dão em meio a disputas com narrativas concorrentes, que podem ser narrativas oficiais – como as nacionais – ou de grupos étnicos, profissionais ou de outra natureza.

Museu Judaico, Berlim. (foto: Pixabay.com / domínio público)
No caso da Fundação Shoah, dois pontos de tensão se destacavam nessa primeira fase. O primeiro referia-se à legitimidade da construção de uma memória do Holocausto feita por uma organização fortemente marcada pelo cinema – no caso, Hollywood. Isso se tornou uma categoria acusatória a partir da qual se questionavam vários pontos do trabalho, caracterizando-o como “piegas” e sem rigor acadêmico.
Esse debate, além de envolver disputas por recursos e espaços políticos, trazia também questões ligadas à autoridade narrativa. Afinal, diante de evento considerado de tamanha sacralidade, quem poderia se constituir como a voz mais autorizada para narrá-lo? A quem caberia o poder de estabelecer as regras desse registro? Como esse passado era entendido? Qual o uso correto das emoções na construção de narrativas de sofrimento? Como equacionar a crescente ascensão dos profissionais da comunicação na produção de relatos sobre o passado e as consequências éticas e políticas desse fato?
Juntava-se a isso outro questionamento, relacionado ao caráter transnacional da organização. Embora atuasse no mundo inteiro com equipes locais, ela era vista, em muitos lugares, como uma narrativa demasiadamente norte-americana, colocando em xeque a construção da memória de um evento ocorrido em solo europeu e que era ressignificada a partir de várias perspectivas, seja dos países diretamente envolvidos no conflito, seja daqueles com uma participação marginal.
Como compatibilizar um modo de operação norte-americano com aspectos locais, na construção de acervos simultaneamente norte-americanos, globais e locais? Os debates traziam não só desafios técnicos e operacionais, mas também disputas acerca da prerrogativa de se instituir versões do passado que envolvia questões sobre identidade nacional e o lugar dos Estados Unidos no contexto internacional dos anos 1990.
Um momento de inflexão
O término da coleta de 50 mil testemunhos gerou uma revisão estrutural da organização, colocando em questão sua própria existência. Sua missão foi repensada, deslocando a outrora primazia das entrevistas para o uso do arquivo. Essa transição foi consagrada pela sua incorporação em 2006 à Universidade do Sul da Califórnia (USC), com o mudança física para o campus universitário, assim como de seu nome, agora USC Shoah Foundation – The Institute for Visual History and Education.
Essa incorporação em alguma medida dialogava com o antigo debate da década de 1990 e os questionamentos sobre sua legitimidade, tornando-a mais sustentável financeiramente e aprofundando sua articulação com o mundo acadêmico. A diretriz de produção de material educativo voltado às escolas foi estendida ao mundo universitário, com o estímulo ao uso do arquivo como fonte de pesquisa, na produção de filmes ou produtos artísticos em concursos estudantis, à criação de disciplinas que utilizassem o material e/ou a metodologia desenvolvidos e à criação, em 2014, de um centro de estudos avançados sobre genocídio. O arquivo foi disponibilizado integralmente em mais de 50 universidades e centros de pesquisa pelo mundo via internet 2, e foi reproduzido parcialmente em mais de 200 instituições.
Nesse novo momento, duas características se destacavam. O forte acento tecnológico de origem permanecia por meio do pioneirismo no uso de ferramentas de organização e acesso ao arquivo, o que incluía também as redes sociais. Sua plataforma tecnológica possibilitou que o número de usuários interagindo com os testemunhos chegasse a 15 milhões por ano, contribuindo para que o acervo fosse monumental não apenas em seu tamanho, mas também nas possibilidades de acesso.
Essa questão relacionava-se, também, à tentativa de preservação de outro elemento importante: sua dimensão testemunhal. A ideia de um arquivo-monumento que tinha nas noções de ‘experiência’ e ‘biografia’ um valor permaneceu estruturante, como revela um projeto ainda em desenvolvimento, chamado ‘Novas dimensões no testemunho’. Um sobrevivente, filmado por 50 câmeras, foi novamente entrevistado a partir de um roteiro formado por centenas de perguntas que buscavam antecipar toda e qualquer dúvida das futuras gerações. Trata-se de uma ferramenta interativa que visa projetar a imagem do entrevistado diante de uma plateia para que as perguntas feitas possam ser reconhecidas pelo sistema, acionando as respostas correspondentes. Essa ‘conversa’ permitirá uma nova modalidade de preservação da memória, possibilitando que narradores virtuais compartilhem sua experiência, mesmo após sua morte.
Por fim, cabe destacar um último elemento, ligado à centralidade do Holocausto na identidade do arquivo. As transformações dos últimos anos acabaram por promover um importante deslocamento, em que a noção de ‘genocídio’ tornou-se central, com a incorporação de testemunhos do genocídio dos armênios, de Nanjing (China), do Camboja e dos tutsis (Ruanda). Se por um lado isso pode ser entendido como a busca de diálogo com um público mais amplo e de novas formas de legitimidade, por outro relacionava-se com o lugar que o Holocausto havia assumido nas últimas décadas.
Sua posição antes marginal foi paulatinamente tornando-se lugar de grande força simbólica, em que ele se tornou para muitos a grande metáfora do sofrimento nas sociedades ocidentais. Isso acabou por fazer com que grupos diversos passassem a reivindicar o uso dessa categoria para nomear o tipo de experiência sofrida, trazendo uma nova tensão em torno desse evento que se tornou simultaneamente particular (associado à experiência dos judeus) e universal (cuja força simbólica dizia respeito a todos). Essa organização resguardou a perspectiva particularista, mas incorporou a dimensão universalizante que envolvia, nesse caso, o entrelaçamento dessa memória com a de outras experiências-limite.
A trajetória dessa organização revela, portanto, questões centrais sobre os processos de construção social da memória do Holocausto, nas suas múltiplas dimensões: no dinamismo das ressignificações ocorridas; na emergência de novos atores como ‘guardiões’ de memória; na proliferação de narrativas, retirando o Holocausto dos espaços subterrâneos, ainda que, a despeito de toda a visibilidade adquirida, permaneça para muitos como um evento desconhecido.
Deu-se também na deflagração de contra-memórias que negavam ou banalizavam os horrores do nazismo; nas situações em que se dá a problemática disputa em torno de seu capital simbólico; nos dispositivos e práticas de memória cada vez mais articulados com as novas tecnologias de informação e comunicação. O reconhecimento da mutabilidade desses processos reforça a necessidade de um debate renovado sobre o tema, levando em conta os desafios éticopolíticos enfrentados na contemporaneidade.
BAUMAN, Z. Modernidade e Holocausto. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998.
LERNER, K. Memórias da dor: coleções e narrativas sobre o Holocausto. Brasília: IBRAM, 2013.
LEVI, P. Assim foi Auschwitz: testemunhos 1945-1986. São Paulo: Cia das Letras, 2015.
Na Internet
USC Fundação Shoah
Kátia Lerner
Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde
Fundação Oswaldo Cruz