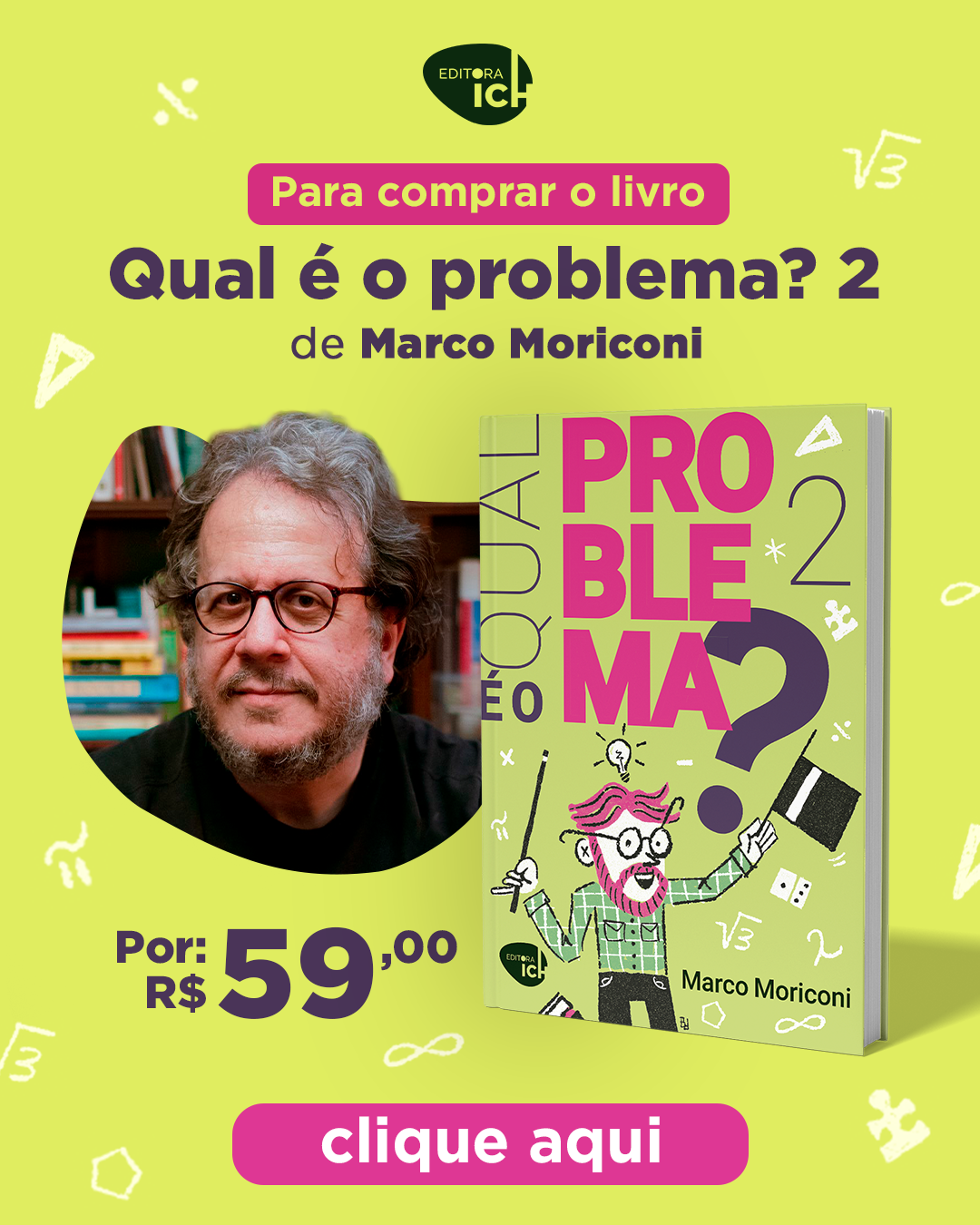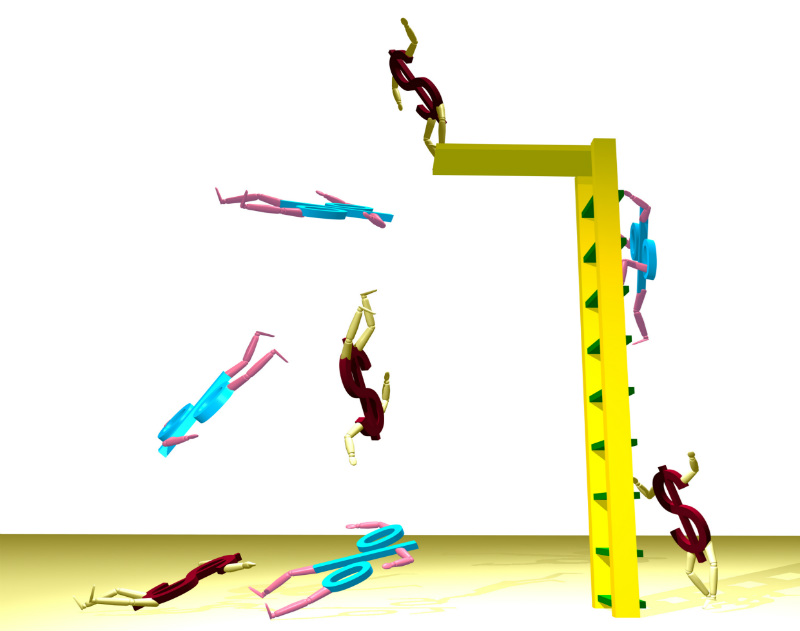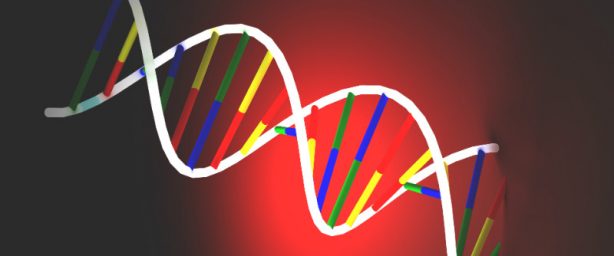A escravidão marcou profunda e irreversivelmente a memória e a história do Brasil. Não é possível esquecer que, entre o final do século 16 e o meado do século 19, milhares de seres humanos originários de diversas partes do continente africano foram introduzidos à força na América portuguesa, constituindo um dos negócios mais lucrativos da fase de implantação do capitalismo. Nem que o tráfico negreiro nutriu um número considerável das grandes fortunas da época.
Grandes comerciantes, homens públicos de destaque e até aqueles que, depois, se disseram defensores da supressão do vil comércio – imposta pelos ingleses em 1850 – e da implantação do trabalho livre, que só se generalizaria após a abolição, ocorrida em 1888, puseram dinheiro nas embarcações que comerciavam africanos entre um e outro lado do Atlântico. Mesmo se consentido e encarado como negócio lucrativo, o “trato dos viventes” – título do livro clássico do historiador Luiz Felipe de Alencastro – não orgulhava muitos dos que o praticavam, assombrando-lhes a consciência e levando-os, assim que possível, a tentar apagar seu passado de negreiros.
Consciência que pesa ainda e continuará a pesar, sob as mais diversas formas. Na defesa das cotas encontra-se o sentimento de reparação ante as iniquidades do tráfico e da exploração do trabalho escravo. Na crença de que todos os nossos males advêm da escravidão também. A escravidão é tema recorrente em alguns dos principais ensaios de compreensão do Brasil, como Casa grande & senzala, de Gilberto Freyre, e a desqualificação do trabalho é um dos fios condutores de Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Boa parte da melhor historiografia produzida hoje no Brasil versa sobre a escravidão e temas dela derivados.
Tema para historiadores
Conforme ouvi há anos de uma conhecida historiadora norte-americana, o tema da escravidão é, ao mesmo tempo, qualidade e defeito dos estudos historiográficos brasileiros. Não se pode jamais esquecê-lo ou minorá-lo, mas é preciso, também, ultrapassá-lo. Há quantidade de assuntos para se abordar nos trabalhos acadêmicos, ainda mais em universidades tão jovens quanto as nossas – as mais velhas não alcançam sequer um século.
O Haiti, que na época da Revolução Francesa (1789) se chamava São Domingos e era conhecido como a ‘pérola das Antilhas’, contava com uma população na qual 85% eram escravos. Conheceu a primeira grande revolta de escravos negros da história, aboliu a escravidão em 1794 e proclamou a independência em 1804. O processo teve início sob a Revolução Francesa e atingiu o ponto crítico – o da supressão do vínculo colonial – já na época de Napoleão Bonaparte.
Tanto a maioria dos radicais revolucionários (os jacobinos) quanto a dos homens do nascente império napoleônico eram contra a independência e a favor da escravidão, evidenciando as contradições que sacudiam as relações entre as metrópoles e suas colônias. Na França, pregava-se a igualdade entre os homens; nas colônias, deixava-se que interesses mercantis – então obrigatoriamente colonialistas e escravagistas – falassem mais alto.
Para reconhecer a soberania do Haiti, o governo francês exigiu uma indenização de 150 milhões de francos-ouro: algo como 2% do produto interno bruto da França na época (Le Monde, 3/5/2014). Abatida a soma, a ilha pagou 90 milhões e arrastou, até a metade do século 20, uma dívida gigantesca para com o país europeu.
Uma vez independente, o Brasil honrou pagamentos e contraiu dívidas, mas manteve a escravidão por todo o Império, só a abolindo às vésperas da República. Talvez essa triste história de longa duração ajude a compreender os motivos que fazem pesar nossa consciência e que continuam a nortear as escolhas temáticas de nossos historiadores.
Laura de Mello e Souza
Departamento de História
Universidade de São Paulo
Membro da Academia Brasileira de Ciências