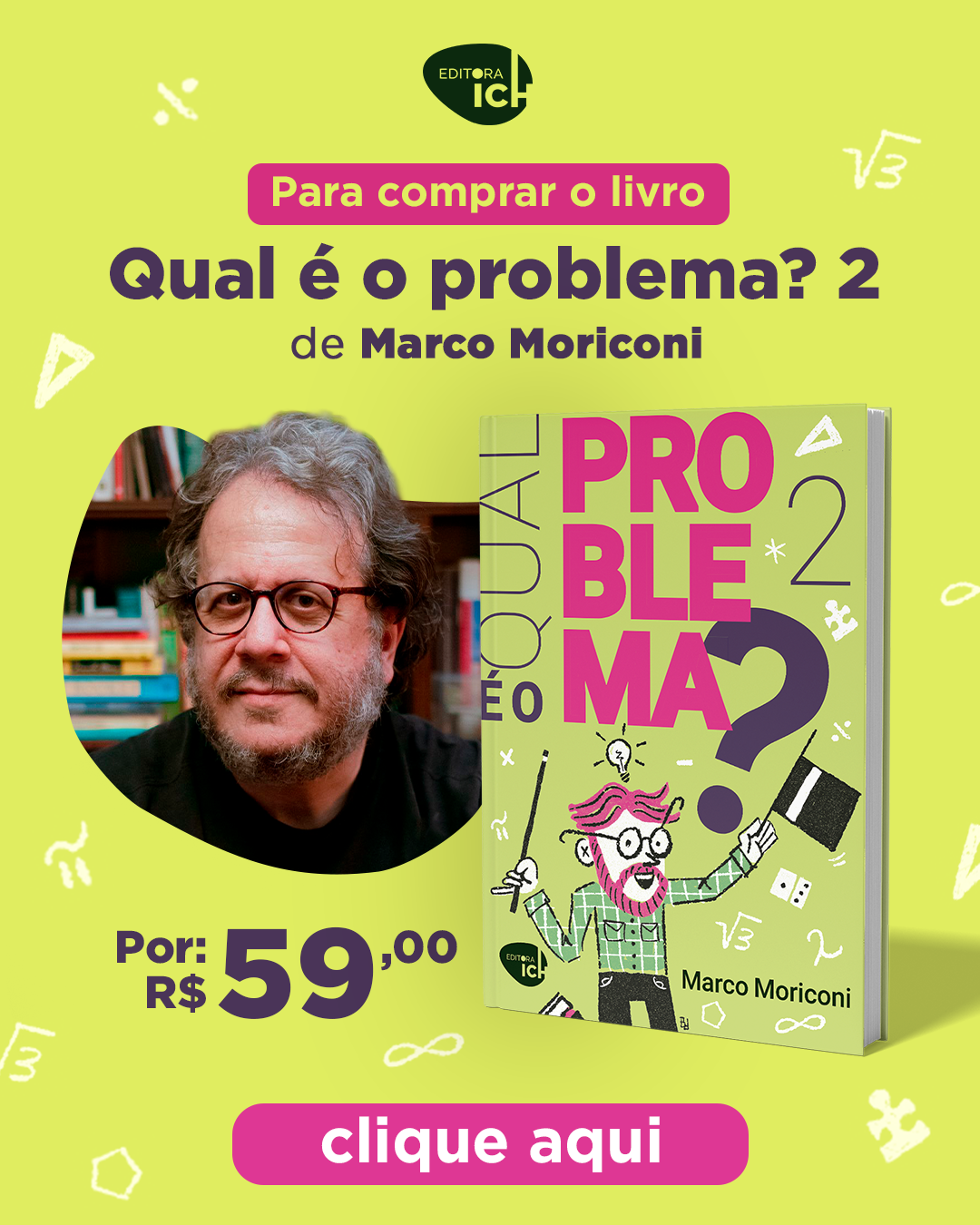Para exemplificar a incapacidade de classificações raciais servirem como base para a medicina, Pena cita dois estudos realizados por seu grupo. Os pesquisadores utilizaram seqüências de DNA que variam entre as populações (polimorfismos) para investigar a correlação entre raça e ancestralidade. O primeiro trabalho foi feito com 173 indivíduos de Queixadinha, no município de Caraí, em Minas Gerais. Além de analisar os polimorfismos, dois observadores (um biólogo e um clínico), seguindo a classificação adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dividiram os participantes em brancos (29), pretos (30) ou pardos (114), baseando-se na cor da pele da porção interna do braço, na cor e textura do cabelo, na forma do nariz e dos lábios e na cor dos olhos.
Fred Furtado
Ciência Hoje/RJ