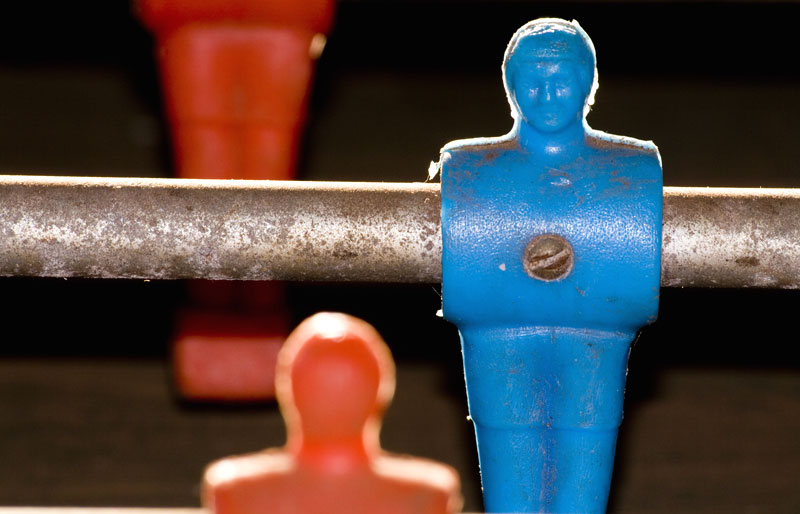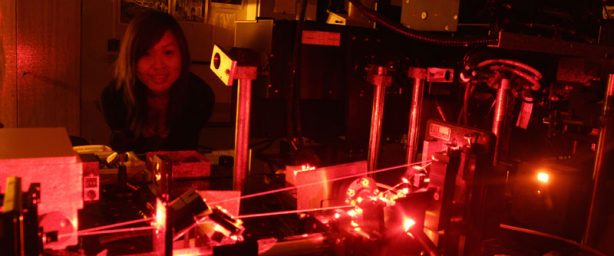Médico do Ministério da Saúde, Edmar Oliveira esteve, durante quase 10 anos, à frente do Instituto Municipal Nise da Silveira, mais conhecido como hospício de Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. A instituição, inaugurada em 1852 por D. Pedro II, em construção imponente na Praia Vermelha, onde hoje funciona a Universidade Federal do Rio de Janeiro, trazia em seu cerne a herança de uma psiquiatria mais voltada a esconder a loucura, apartar os doentes mentais da sociedade. Para transformar o hospício secular, Oliveira tomou medidas radicais com o objetivo de desativar o manicômio.
Embora em consonância com a política governamental, que busca implantar a reforma psiquiátrica, movimento que vem tomando forma desde os anos 1970, a tarefa não era simples. O vagaroso processo de modificação da estrutura herdada e, sobretudo, do estigma associado à doença mental é o tema de seu livro Ouvindo vozes (Vieira & Lent, 2009).
Nele estão incluídas histórias emocionantes de vários pacientes que conheceu. “O título do livro é uma brincadeira, pois se ouvir vozes é um sintoma da esquizofrenia, é um sintoma nosso não ouvir as vozes deles”, sintetiza Oliveira. Nesta entrevista, ele discute algumas das medidas tomadas no sentido de libertar essas vozes por longo tempo silenciadas.
O psiquiatra que, recentemente, pediu demissão da direção do Instituto em consequência, entre outros motivos, de “uma asfixia nos recursos já escassos”, diz esperar que seu afastamento não afete “a sorte de quem sentiu o gosto dos ventos da liberdade”.
O senhor ficou 10 anos à frente do Instituto Municipal Nise da Silveira com a proposta de desativar o hospício. Por que esse objetivo?
Nosso objetivo, meu e de minha equipe, era o fim do manicômio. Mas isso não significava fechar o manicômio, e sim encontrar formas melhores para as pessoas viverem. Não percebemos o mal que o manicômio faz às pessoas. Em nome do cuidado, ele tira tudo delas. E não é só no Brasil. Os hospícios são iguais em toda parte, mesmo na Europa e nos Estados Unidos. Nesses lugares pode haver uma hotelaria mais sofisticada, mas o modo de ver os pacientes é igual. Eles estão esquecidos ali, apenas para saneamento da sociedade, para retirar dela algo indesejável. Como a gente vê nos filmes, as roupas são sempre de um brim característico, que eu chamo de ‘azul manicômio’ ou ‘cinza hospício’. Até a banalidade da vida é retirada dessas pessoas. Elas não têm direito a mais nada. Como todas as instituições totais (o convento, o presídio etc.), o hospício dá tudo. O paciente não precisa de nada que esteja fora, mas isso é a morte também.
Como diz [o psiquiatra Roberto] Tykanore, temos um conceito equivocado de autonomia. Falamos “fulano é autônomo, não depende de ninguém”, mas é exatamente o contrário. A real autonomia é dada pela nossa relação de dependência com o social. Eu sou autônomo quando mantenho vínculos com a família, o vizinho, a cidade, o ônibus, o carro, o cinema, o supermercado etc. Quanto maior o grau de dependência desses vínculos, mais autonomia eu tenho. No hospício, não há dependência de nada, e nenhuma autonomia.
O senhor se refere, em seu livro, à ‘desinstitucionalização’ do manicômio. O que significa isso?
Desinstitucionalizar não é o mesmo que ‘desospitalizar’, como os norte-americanos fizeram. Eles chegaram à mesma conclusão que nós, a de que os hospícios não deram certo. Mas o que fizeram? Práticos, fecharam os hospícios. E os loucos ficaram nas ruas. Isso não é solução. O nosso movimento antimanicomial propõe a substituição do manicômio por serviços que cumpram aquelas funções de uma forma muito melhor. Isso é demorado. No caso do Instituto Municipal Nise da Silveira, o projeto levou 10 anos. Quando chegamos, a instituição era um complexo hospitalar, em que dominavam práticas atrasadas, herança do passado da instituição. Em resumo, reinava a lógica de que o louco, para ser tratado, deveria ficar isolado. Hoje, a reforma psiquiátrica é uma política de Estado e ela prevê que se deve tratar a loucura na comunidade, não no isolamento. Fomos, vagarosamente, fazendo essa passagem.
Quais foram os principais passos para a realização desse projeto?
O primeiro passo foi lutar pela municipalização do Instituto. A saúde não pode ficar na esfera federal, porque o contato com o governo federal é complicado, dificulta qualquer intervenção. Como a saúde mental é esquecida, ninguém se importa com ela, passamos por vários governos, em um processo de continuidade meio à francesa. Na Europa, quando se tem uma política de Estado, independe qual o partido que está no poder. Aqui, quando muda o secretário de Saúde, muda até o funcionário que serve o cafezinho… Nosso encaminhamento foi, a partir do complexo hospitalar que existia, construir programas para cada tipo de paciente que tínhamos lá. Os pacientes que iam e vinham, para uma consulta ambulatorial ou para passar o dia no hospital, foram para os Centros de Atenção Psicossocial (os Caps).
Esses centros representam uma nova forma de trabalho, em substituição aos hospitais psiquiátricos. Criamos três Caps – um infantil e dois adultos – , funcionando em casas que alugamos na comunidade. E, com isso, não gastamos um centavo a mais. Ao contrário, a desativação de um macro hospital, caro de sustentar, e no seu lugar alugarmos casas na comunidade, representou uma economia, além de outra qualidade. Levamos para trabalhar nessas casas a equipe de funcionários, o pessoal de limpeza, alimentação, guarda etc. Cada Caps tem em torno de 300 pacientes registrados. Os mais graves vão todos os dias; os menos graves, uma vez por semana. Os que estão bem vão uma vez por mês. Não há uma constância. O diferencial é atender esses pacientes mentais graves integralmente na comunidade.
E aqueles pacientes que precisam de internação?
Se o paciente fica o dia todo no Caps e depois vai para sua casa, junto da família, e acontece de aí precisar da gente, nós vamos também até sua casa. Quando o cuidado é feito desse modo, é muito rara a necessidade de internar. Mas, para os casos de internação, existe o Caps 3. Embora ainda não exista no Rio de Janeiro, muitos lugares do país já têm esses centros. Digamos, por exemplo, que uma pessoa sofre uma violência e precisa de tratamento psiquiátrico. Se ela vai a um posto de saúde da comunidade, não é muito percebida, mas se é levada para o hospício, além da violência, ela tem de carregar o estigma de doida também. Essa é uma mudança de eixo.

Sheila Kaplan
Ciência Hoje (RJ)