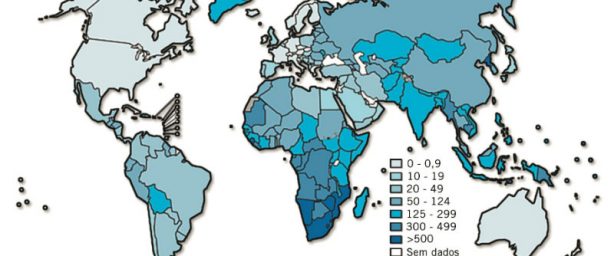A soberania do Bem, volume que reúne três ensaios filosóficos publicados no decorrer da década de 1960, é sem dúvida uma preciosidade na história recente da filosofia moral. Iris Murdoch (1919-1999), irlandesa que estudou os clássicos em Oxford e filosofia em Cambridge com o austro-britânico Ludwig Wittgenstein (1889-1951), tem uma volumosa obra literária e uma pequena, mas reconhecida, obra filosófica. Em ambas o tema do amor é central: seu premiado romance The sea, The sea narra o amor vivido como sombra ou degradação egocêntrica; já em A soberania do Bem, desde as primeiras linhas, o amor é afirmado como tema central na moral.
A filósofa se inscreve na linhagem de Platão, embora o amor tal como descrito em A soberania do Bem exija um esvaziamento de si ausente no Eros grego. Seu propósito é mostrar a insuficiência explicativa – e o caráter “demoníaco” – das “filosofias existencialistas” (definidas de forma ampla de modo a incluir a filosofia moral analítica), que fazem da vontade o núcleo da moral.
Apresenta também uma tese central, metafísica, sobre a natureza da moralidade: o bem é real e não algo subjetivo ou fruto de escolha arbitrária. Prova disso é que ninguém acredita, a não ser que “corrompido pela filosofia”, que o bem seja fruto de nossa invenção. Estes e outros pontos afastam a autora das concepções morais mais estabelecidas a partir da modernidade, que dissociam de forma radical conhecimento e moral, e cuja fonte está em Immanuel Kant (1724-1804). Ela define sua filosofia como um “naturalismo inclusivo não dogmático” e entende que o Bom, o Verdadeiro e o Belo só podem ser compreendidos se articulados entre si.
No entanto, a autora se declara ateia e habita o mesmo mundo desencantado que os existencialistas que combate: “O mundo não tem nenhum propósito, é incerto, imenso”. Sua nada fácil tarefa será então a de conceber o Bem como realidade na ausência de uma finalidade externa. Mesmo descrente, ela recolhe da religião ideias como pecado, peregrinação e prece (além da noção de atenção de Simone Weil), que são suas fortes aliadas nessa empreitada, juntamente com uma concepção da arte como lugar da verdade e do bem.
Seguindo a direção de um projeto traçado na década anterior pela também filósofa Elizabeth Anscombe, Murdoch contribui para a chamada ‘ética das virtudes’ ao propor que a filosofia moral se ocupe menos com os termos gerais e indefiníveis como “bem” ou “certo” e utilize palavras morais secundárias e concretas, como justiça, compaixão ou humildade.

- A arte, ao pintar um quadro compassivo e justo da natureza humana, faz ver a realidade para além da apreensão cotidiana e indica caminhos para a purificação e a aproximação do bem. (imagem: Inocência/ Bouguereau/ Wikimedia Commons)
Escritora exímia e pensadora arguta, Murdoch nos apresenta um texto no qual verdadeiros aforismos iluminam uma argumentação que se constrói um tanto elipticamente. Pois no interior de um mesmo ensaio ou entre os três ensaios presentes no livro, ideias são retomadas e reconstruídas a partir de diferentes perspectivas e exemplos.
Uma das mais recorrentes é a de que há uma realidade a ser descoberta, da qual nosso eu é inimigo, pois o amor de si e o orgulho nos desviam da realidade. Tal realidade tem um sentido normativo, pois real é o que se mostra depois de vencidos os desvios do eu.
Embate com os filósofos
No ensaio ‘A ideia de perfeição’ (1964), o embate com os filósofos é mais explícito e a autora argui a insuficiência de uma filosofia da mente inspirada em Wittgenstein e que pensa a moral a partir das ações exteriores. Ao retrato da vida moral e da escolha apresentado pelas filosofias “existencialista, behaviorista e utilitarista”, ela quer opor outro que pretende explicar melhor o processo de decisão e também combater o autoengano, irmão do orgulho, daquelas filosofias, cujas consequências seriam ou o “fatalismo ou a irresponsabilidade”.
À alardeada liberdade de uma vontade sem substância e sem personalidade que, ao modo de Jean-Paul Sartre (1905-1980), cria o valor no ato mesmo da escolha, ela opõe, a partir de um exemplo imaginário, uma trajetória interior de aperfeiçoamento moral dirigida pela atenção à realidade. O exemplo pretende mostrar que conhecimento e bem habitam o mesmo mundo: o verdadeiro conhecimento é justo e amoroso.
O segundo ensaio na ordem da tradução, ‘Sobre ‘Deus’ e o ‘Bem’’, foi na verdade o último a ser publicado (1969). Aqui a autora busca uma concepção adequada de pecado original, a seu ver imprescindível para a ética e ausente nas concepções contemporâneas.
A psicanálise é mobilizada para apresentar “um retrato realista e detalhado do homem decaído”. A arte, na medida em que pinta um quadro compassivo e justo da natureza humana, faz ver a realidade para além da apreensão cotidiana e ilusória e, juntamente com Weil, indica caminhos para a purificação e a aproximação do bem. O bem deve ser entendido a partir da imagem de Deus: a maior realidade e, ao mesmo tempo, indefinível. Reelaborando a metáfora platônica do Sol, o bem, misterioso e irrepresentável, é a luz que faz ver as coisas como realmente são.
O ensaio ‘A soberania do Bem sobre outros conceitos’ (1967) também enfoca a arte como algo que “se opõe totalmente à pressão egoísta” e revela o real e o verdadeiro no meio do despropósito. Aqui se introduz com maior força o tema da fragilidade humana e da aceitação da morte como aproximação do bem. Aceitar a morte é aceitar a nulidade, mas a aceitação do vazio, para ser boa, tem que ser o oposto do desespero existencialista. Pois este – que sem dúvida requer coragem – é base para o orgulho: lugar da distorção da realidade e da falsa crença numa liberdade absoluta. “O homem humilde, por se ver como nada, pode ver outras coisas como elas são.”
Poderíamos talvez acusar a linguagem por vezes alusiva da escritora ao defender seus pontos. Mas creio que isso não seria justo com alguém que propõe compreender o bem como mistério e afirma que a argumentação em moral, embora se relacione com o verdadeiro, não é demonstrativa. Ademais, o caráter misterioso do bem em nada impediria sua realidade, penso eu: pois não seria a realidade ela mesma nosso mistério cotidiano? Um ponto realmente problemático me parece ser que, ao identificar o conhecimento e o bem, Murdoch tem que trabalhar com uma noção um tanto vaga de conhecimento.
Iris Murdoch, desconfiada da filosofia analítica, afirma que “fazer filosofia é explorar nosso próprio temperamento, e ao mesmo tempo tentar descobrir a verdade”. Esta resenhista que, por temperamento, tende a acreditar em David Hume (1711-1776) e na distância entre ser e dever, recomenda a leitura destes ensaios a interessados em ética de todos os temperamentos.
Telma de Souza Birchal
Departamento de Filosofia
Universidade Federal de Minas Gerais
Texto originalmente publicado no sobreCultura 17 (outubro de 2014).