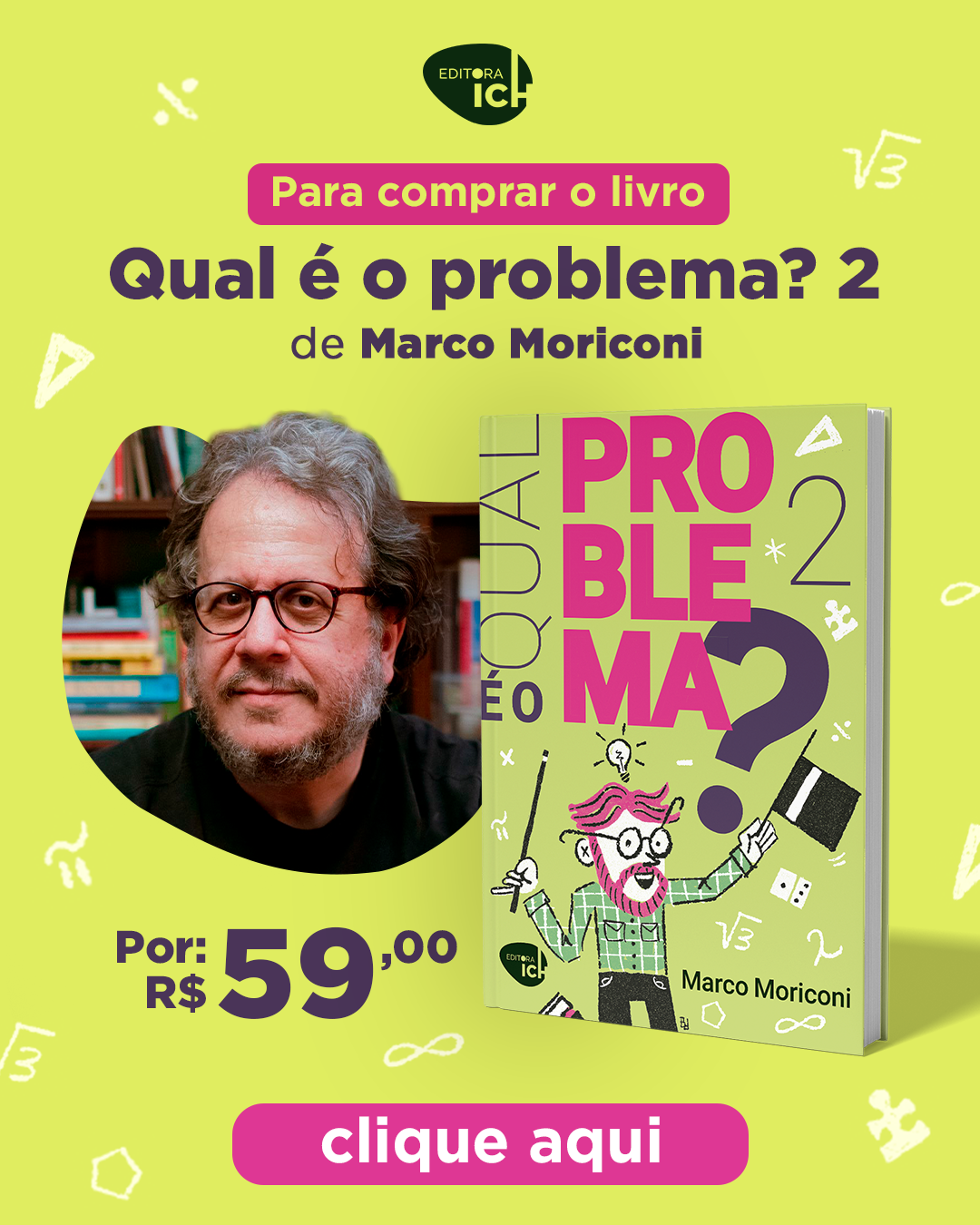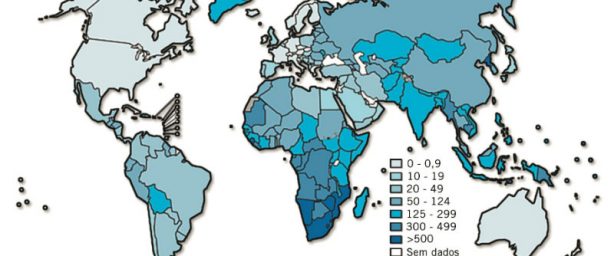O protagonista do conto A nuvem de smog (Teorema, 2009), de Italo Calvino, apresenta-se como alguém “que não se importava com nada de nada, que não tinha nenhum desejo de estabilidade e que gostaria que tudo em torno dele fosse fluido, provisório, pois só assim ele poderia salvar alguma estabilidade interior, mesmo que não soubesse explicar em que isso consistisse”. Escrita em 1958, essa passagem introduz um dos aspectos mais evidentes da sociedade atual: seu caráter provisório, instável ou “líquido”, como o qualifica o sociólogo polonês Zigmunt Bauman, em Modernidade líquida (Zahar, 2001).
Diante dessa sociedade, cabe à cultura introduzir referências estáveis, fazer dialogar distintos modos de vida e de comportamento e elaborar uma gama de valores, uma racionalidade e uma linguagem compartilhadas. As tecnologias de informação, o mercado global e a multiplicação de fluxos e conexões avizinharam espaços e tempos que se encontravam distantes, mas não os fizeram dialogar. Cumpre à cultura conferir relevo a perspectivas que foram marginalizadas nesse processo, mas que são essenciais para a constituição do homem e do mundo contemporâneos e para responder aos seus principais desafios. Estamos, por exemplo, por demais habituados a considerar as coisas sempre sob uma ótica técnica e utilitária.
Contudo, uma perspectiva cultural mais ampla pode descortinar modos mais fecundos de considerá-las, como: o saber dos árabes que está na origem da ciência ocidental moderna e das primeiras universidades criadas no século 12, o renascentista que irmanou ciência e arte no século 15, o “pensamento selvagem” que Lévi-Strauss estudou nos índios bororos brasileiros e os modos, tão utilizados por Freud, fornecidos pela poesia e pela mitologia.
O protagonista de Calvino diz não encontrar consistência, estabilidade e referências duráveis e nítidas. Mas como ele poderia ter o sentimento do fluido e do provisório senão diante daquilo que permanece e que é sólido e estável? Cabe à cultura tornar visíveis essas referências, sobretudo sob o smog de um mundo onde tudo é condenado à obsolescência e substituição – desde os objetos que gostamos de ter à nossa volta até aqueles a quem amamos ‘provisoriamente’, desde os espaços onde habitamos até os lugares da cidade que guardavam nossas lembranças e que foram destruídos ou “liquefeitos”, desde a nossa identidade constantemente incitada a mudar até os nossos corpos, hábitos e valores, aos quais procuramos dar a plasticidade e a versatilidade requeridas por esse mundo movediço. Mas não somos tão infinitos e plásticos quanto o são as possibilidades que ele nos oferta.
Ruptura e descontinuidade
A consequência disso é a constante ruptura e descontinuidade de nossos músculos, de nossos corpos, de nossos hábitos, de nossos valores, de nossa identidade, de nosso habitar, de nossa memória, de nosso desejo, de nosso tempo e de nossas ações. Cabe à cultura providenciar o ‘re-conhecimento’ de nós mesmos, do mundo ao nosso redor e das nossas reais potencialidades, seja como indivíduos e cidadãos, seja como sociedade e república. Diante da ‘cultura hegemônica’ promovida pela mídia, pelo consumo e pela tecnocracia avassaladora, precisamos de uma cultura que nos emancipe e que funcione também como uma ‘contracultura’ capaz de abrir espaço para aquilo que deveríamos ser e para horizontes diversos daquele que a técnica, o consumo e a mídia desenham para nós.

- Valores que consideramos ‘universais’, como o da solidariedade, o da justiça e o da verdade, estão sendo esgarçados e substituídos por valores determinados pelo dinheiro, pelas armas, pela mídia e pelo simulacro. (foto: Luiz Baltar)
Vige, hoje, por exemplo, a concepção que só valoriza a cidade enquanto um palco de megaeventos, de negócios, de consumo e de gozo quase ilimitados. Contra essa concepção convém lembrar que a cultura que recriou as cidades, há quase mil anos, ao final da Idade Média as via como o local do intercâmbio de experiências, ideias, memórias e saberes (e não apenas de mercadorias) e do compartilhamento de uma origem e de um destino comuns por todos os seus cidadãos.
O que difere a ‘sociedade’ da ‘massa’ é esse compartilhamento que a cultura promove. A cidade é tanto a maior invenção da cultura ocidental quanto também a condição, a força-motriz e o instrumento adequado para que essa cultura exista e se ‘reinvente’, cotidianamente, de modo a tornar mais nítidos o lugar em que estamos na história, o lugar de onde viemos e o lugar para onde vamos, enquanto sociedade. Só assim reconheceremos o que cumpre a nós fazer com o mundo que recebemos e que deixaremos para aqueles que nos sucederão.
O efêmero e o provisório
Para isso é necessário que o efêmero e o provisório, os quais dimensionam inegavelmente uma parte de nossa existência, não obscureçam os valores da permanência, da solidez e da estabilidade. Só diante daquilo que passa percebe-se aquilo que permanece, e vice-versa. Toda a nossa vida se desenvolve entre esses dois polos, como mostra Ivan Domingues em O fio e a trama (Editora UFMG/Iluminuras, 1996). Mas estamos perdendo de vista o segundo desses polos e sendo completamente imantados pelo primeiro deles. Valores que até aqui consideramos ‘universais’, como o da solidariedade, o da justiça e o da verdade, estão sendo esgarçados e submetidos ao relativismo que não concebe uma justiça e uma verdade que estejam acima das contingências, particularismos, acordos e interesses ‘provisórios’. Preponderam, então, os valores determinados pelo dinheiro, pelas armas, pela mídia e pelo simulacro. No vácuo dos universais e de toda estabilidade, germinam tanto o homem que não se interessa por nada, como o personagem de Calvino, quanto os totalitarismos e fundamentalismos de toda espécie.
Hoje, a cultura é o melhor local, senão o único, onde cultivar os ‘universais’ até que eles encontrem um momento mais favorável para operarem a economia do mundo.
Mercadoria descartada
Mas como a cultura poderia fazer isso se ela mesma tornou-se mercadoria a ser consumida e descartada? Se o entendimento do que ela seja passou a ser regido por aqueles que só veem nela possibilidades novas de lucro, de propaganda e de poder? Se a compreendemos de um modo também técnico e utilitarista?
Justamente no momento em que caberia principalmente à cultura o papel de preservar os universais, ela mercantiliza-se e contribui para solapá-los em todas as esferas de nossa vida, da arte à ciência, da moral aos costumes, do sentimento religioso ao de justiça. Preservar os universais sem limar as diferenças foi o principal trabalho da cultura ao longo da história.
Cumpre à contemporaneidade continuar esse trabalho e combater a pseudocultura do simulacro, das aparências, do efêmero e das efemérides. Só assim ela pode descortinar um futuro que não seja a mera decorrência e contínua reprodução do estado atual de coisas sobre o qual nos julgamos incapazes de intervir. Cabe à cultura recolocar nosso destino em nossas mãos para que o possamos traçar com a nitidez, a autonomia e a competência que convêm à felicidade, à identidade, à verdade e à cidade que o calendário de eventos, o consumo, o mercado, o turismo de massa e o gozo sem limites não conseguem esboçar.

- Não nascemos propriamente ‘humanos’. Tornamo-nos ‘humanos’ ao longo de nossas vidas e para isso serve a cultura. (foto: Miguel Saavedra/ Freeimages)
Não nascemos propriamente ‘humanos’. Tornamo-nos ‘humanos’ ao longo de nossas vidas e para isso serve a cultura. Ela não é para ser consumida, ela não é um acessório, ela não é algo para o qual atentaríamos somente depois de satisfeitas necessidades básicas, como as de alimentação, habitação e trabalho. Alimentar, habitar e trabalhar são instituições da própria cultura, como a cidade. A cidade enquanto polis e lugar de reunião e diálogo dos homens parece estar sendo desinventada.
O mesmo pode estar acontecendo com a cultura enquanto instrumento maior através do qual edificar o “humano do homem” (vir virtutis, como dizia Cícero). Edificar isso é o nosso maior trabalho, mas a lógica do provisório, dos fluxos, do fluido e do instável tem feito com que o percamos de vista. Nascemos frágeis e precários, como em uma nuvem de smog. Por isso precisamos dos outros e inventamos a cidade e a cultura enquanto lugares onde nos encontramos para delinear o humano em sua universalidade e liberdade. Mas ainda queremos delinear isso?
Se a resposta for afirmativa, convém dar à cultura o lugar e as condições para ela promover esse trabalho. Se for negativa, convém, então, abrir mão do vir virtutis e redefinir a cultura a partir de um propósito outro que não seja o de construir uma felicidade, uma cidade, uma origem e um destino compartilhados. Mas isso não significaria retirar de nosso horizonte, talvez definitivamente, a responsabilidade individual e coletiva de construir o humano? Não seria substituir a atmosfera própria ao humano pela nuvem de smog exigida pelo pós-humano para respirar com desenvoltura?
Nessa nuvem as coisas parecem informes, indistintas e banhadas por uma fuligem monocromática que anula o relevo delas. O papel que a cultura disponibiliza é aquele sobre o qual podemos desenhar, com alguma nitidez, a forma do ser humano e do mundo que deveríamos ser e que gostaríamos de ver e construir, se isso ainda for de nosso interesse.
Carlos Antônio Leite Brandão
Departamento de Análise Crítica e Histórica da Arquitetura e do Urbanismo
Escola de Arquitetura
Universidade Federal de Minas Gerais
Texto originalmente publicado no sobreCultura 17.