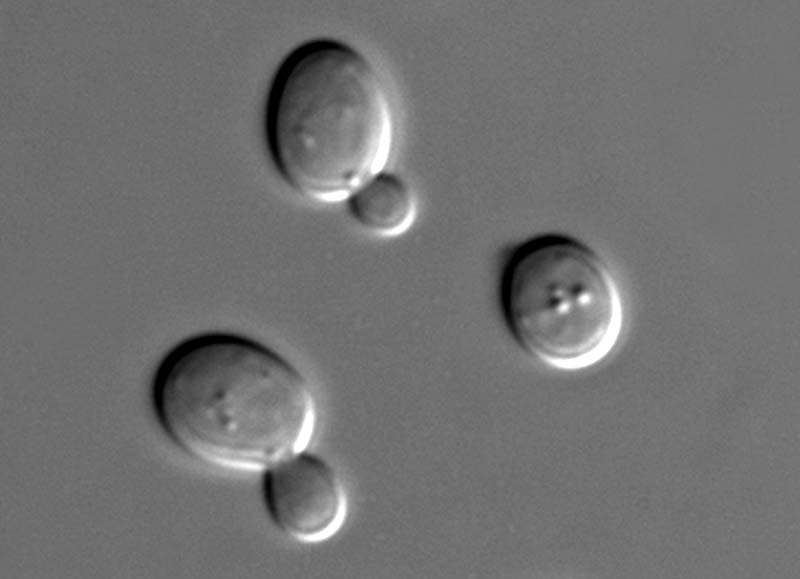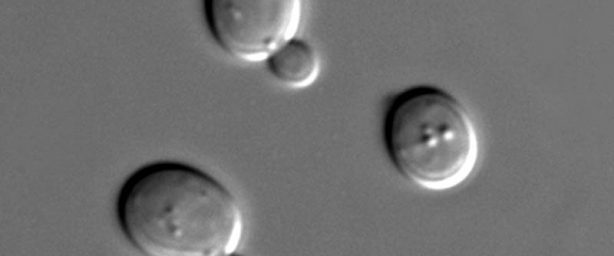Nem Peri – guerreiro valente idealizado pelo escritor José de Alencar em sua obra O guarani, no século 19 –, nem estereótipos negativos de pessoas indolentes construídos por não índios. Os mais de 650 mil indígenas existentes no Brasil hoje, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), são assim considerados por eles mesmos – e buscam suas conquistas.
Com cerca de 400 terras homologadas e mais de 100 ainda em estudo, segundo dados da Fundação Nacional do Índio (Funai), os indígenas brasileiros preparam agora sua entrada sistemática também no ensino superior – e não apenas em universidades convencionais.
Hoje, há cerca de 7 mil indígenas em universidades públicas brasileiras que entraram por meio de ações afirmativas – cotas, acréscimo de vagas ou de pontos no vestibular. Das 65 universidades que adotam essas políticas, 40 beneficiam indígenas – que compõem 26% de todos os beneficiados.
Há também 26 cursos de formação de professores direcionados para indígenas espalhados pelo país, chamados licenciaturas interculturais. “E não é só: há também projetos de descentralização dos campi das universidades, que permitem o acesso regular de indígenas sem a necessidade de cotas”, conta Gersen Baniwa, coordenador geral de Escolaridade Indígena do Ministério da Educação (MEC).
Se o MEC frisa seu esforço de reforçar a inserção de indígenas nas instituições de ensino superior do país, estes – aliados a pesquisadores e ONGs – querem ir além. Muito se tem falado da criação de uma ‘universidade indígena’, ideia lançada primeiramente no ano 2000, no Mato Grosso, e agora recuperada com mais força pelos grupos indígenas do alto rio Negro.
Ainda não existe uma proposta ou conceito único para sua criação – eles são tantos quanto as vozes presentes na temática indigenista –, mas um consenso é que essa instituição valorizaria os saberes tradicionais indígenas e os somaria ao conhecimento dito científico, dominante nas universidades convencionais.
Terras e salas de aula
A ideia de uma universidade indígena seria impensável antes da década de 1980. Foi apenas na Constituição Federal de 1988 que os direitos indígenas foram instituídos, tanto em relação à terra quanto à educação. “A partir daí, houve um fortalecimento da identidade indígena e muitas comunidades passaram a se identificar novamente como índios”, conta o antropólogo Paulo Maia, da Universidade Federal de Minas Gerais.
Nessa época, foi criada a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN) e começaram as disputas pela demarcação de terras e a demanda pela educação diferenciada. “Esse processo vem se cristalizando da década de 1990 até hoje”, completa Maia.
Na região do alto e médio rio Negro, são reconhecidas cinco terras indígenas, que somam mais de 10 milhões de hectares e abrigam cerca de 30 mil índios. Há o grupo baré, que já não fala mais sua língua (aruaque), mas sim o inhengatu (mistura de tupi com português); os baniwas; os warekena; e povos de língua tukano.
Paralelamente à longa luta por reconhecimento, finalizada em 1998 com a homologação das terras da região (cinco terras indígenas contíguas, com mais de dez milhões de hectares de extensão), houve tentativas de desenvolver escolas diferenciadas.
“Hoje, elas são cinco – com grades curriculares baseadas nas culturas locais e voltadas para a valorização dos conhecimentos tradicionais”, comenta o antropólogo Geraldo Andrello, da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e sócio do Instituto Socioambiental (ISA), organização não governamental que, em parceria com a FOIRN, ajuda a implementar projetos indígenas na região.
Andrello também faz parte da iniciativa recente de se discutir a criação de uma universidade indígena no alto rio Negro. Em 2010, o ISA e a FOIRN realizaram três seminários para debater como seria essa instituição. Ainda não há uma proposta formalizada, apenas ideias sendo estudadas por um grupo de trabalho específico – do qual o antropólogo Paulo Maia, da UFMG, faz parte.

Isabela Fraga
Ciência Hoje/ RJ
Texto originalmente publicado na CH 279 (março de 2011).