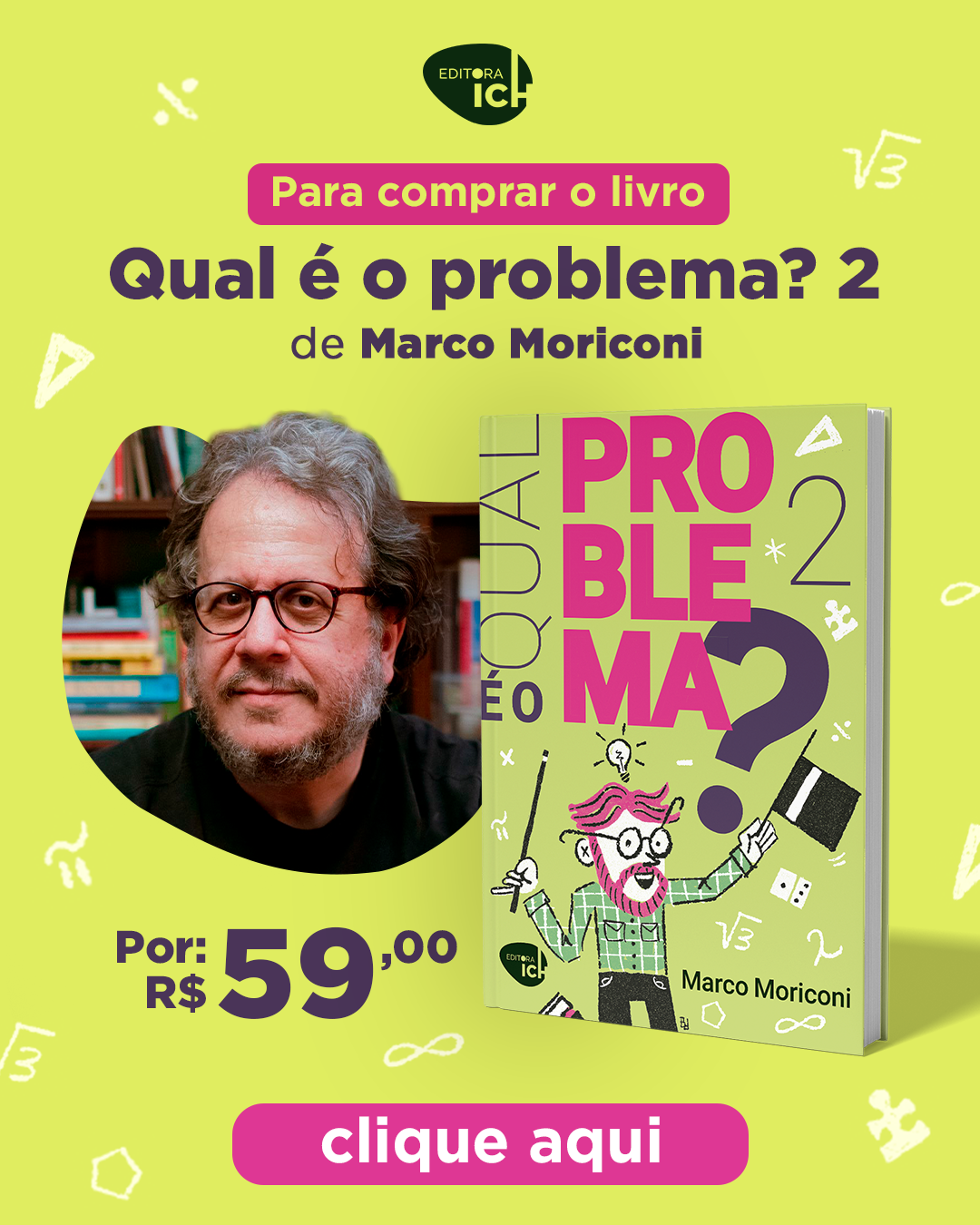Em uma entrevista a uma revista catalã [ Mètode , n. 40, publicada pela Universidade de Valência], o senhor disse que há um abismo entre sociedade e ciência. O senhor poderia definir esse abismo?
Em uma entrevista a uma revista catalã [ Mètode , n. 40, publicada pela Universidade de Valência], o senhor disse que há um abismo entre sociedade e ciência. O senhor poderia definir esse abismo? Ele se deve, em grande parte, à educação que recebemos. Por exemplo, se vamos a uma livraria, a seção de astrologia é maior que a de astrofísica. Grande parte de nossos cidadãos tem uma idéia primitiva do que é a ciência. Estão em contato com um mundo que compreendem muito pouco, inclusive os princípios básicos que o regem. E isso cria uma ruptura grande entre as pessoas que tiveram uma formação científica mínima e um público que foi muito pouco educado nesse sentido. Por outro lado, uma parte importante da sociedade tem, pelos menos em certos países, uma educação em história, teatro etc. relativamente importante. As pessoas sabem quem é Shakespeare, mas, se você perguntar a eles quem é Bohr, elas não saberão.
Não há em alguns setores das ciências humanas uma tendência ao esoterismo?
Isso é absolutamente evidente e muito deprimente. Certas pessoas das humanidades e que dizem se interessar pela ciência na verdade só têm interesse pelas especulações científicas, mas não querem saber questões básicas. As crianças têm esse interesse. Elas muitas vezes perguntam coisas pertinentes, como ‘por que o céu é azul?’ Muitos pais dizem que a resposta é complicada – geralmente, não sabem a resposta –, e que eles, os filhos, não entenderiam. As crianças são naturalmente curiosas, mas não há estímulo. A educação deveria estimular essa curiosidade, mas, muitas vezes, a mata. O analfabetismo científico é quase um motivo de orgulho para certas pessoas. O que, para mim, é muito irritante.
É um problema semelhante ao que C. P. Snow [cientista e escritor inglês, 1905-1980] apresentou em seu livro As duas culturas ?
Acho que seria exagerar um pouco. Sei que o livro de Snow teve muito êxito, mas penso que há uma limitação nessa visão, pois não acho que seja correto falar em cultura científica e cultura humanística. Deveríamos falar de múltiplas culturas. Em parte, é uma limitação de quem tem formação na área das ciências físico-matemáticas. Temos uma rigidez mental que nos faz pensar que todos os problemas podem ser resolvidos dentro desse quadro. Há uma cultura biológica que é igualmente importante, não está baseada na cultura físico-matemática e é absolutamente científica. Temos, por exemplo, físicos que vão explicar a origem da vida com um modelo de equações diferenciais que, quando é analisado por biólogos, é classificado como ridículo. Nós, físicos e matemáticos, devemos fazer um mea culpa , pois há uma grande variedade de problemas científicos importantes que não caem diretamente dentro de nossa área.
Naquela entrevista, o senhor critica a midiatização da ciência, citando o caso do pesquisador que publica primeiramente no New York Times em vez de enviar seu artigo para uma revista científica. Mas, em suas respostas, parece haver um apreço pela divulgação científica como forma de diminuir esse abismo entre a ciência e a sociedade. Não lhe parece meio paradoxal?
Não me lembro do que eu disse ou do que foi escrito naquela entrevista, mas enfatizo que tenho o maior respeito pela divulgação científica. Considero-a uma atividade importante e difícil. O que eu quis dizer no caso do New York Times é que as descobertas científicas devem ser publicadas em revistas científicas. Não conheço nenhum exemplo de uma descoberta científica, descoberta entre aspas, que tenha sido publicada primeiramente na imprensa e depois em um periódico científico. No caso da divulgação científica, há muitas pessoas que se atrevem a praticá-la sem ter a competência necessária e muitas vezes sem resistir ao sensacionalismo.
O senhor disse que, apesar de vivermos na era da informação, nossos sistemas universitários são pré-Gutenberg. O senhor poderia explicar essa afirmação?
Há professores que necessitam da presença dos alunos. Alguns são bons, outros são mais ou menos, outros são ruins. Querem que os alunos estejam na sala de aula para fazer anotações. É isso que chamo sistema pré-Gutemberg. Existem os livros, mas não são aproveitados a fundo, como deveriam. Provavelmente, com essa sociedade da comunicação, as coisas mudem. Lembro-me de que, quando era estudante, alguns professores iam com suas anotações amareladas, anos após ano… Esse sistema ainda vigora em muitos lugares. Isso tem a ver com o fato de o professor querer ter um meio de se impor, de justificar seu cargo. Se ele recomendasse um livro em vez de suas anotações pessoais, então a função do professor desapareceria. É uma forma de autojustificação e auto-reprodução. Uma coisa que poucos professores fazem é dizer aos alunos: ‘Leiam esses capítulos, e a agente os discute na próxima aula.’ Isso seria aproveitar Gutenberg. É muito importante que os estudantes sejam expostos a professores brilhantes, e quanto antes melhor. As universidades tendem a colocar os melhores professores nos últimos anos da graduação, mas acho que eles deveriam dar os cursos básicos, porque é ali que, às vezes, se produz a fagulha inicial. É muito difícil dar bem o curso de física geral, mas, se o aluno tiver a sorte de ter um professor muito bom, isso abre para ele um novo universo… No caso de cursos mais especializados, se a explicação não for muito boa, tanto faz, porque o estudante vai acabar aprendendo aquilo em algum momento.
Retornando à física, para finalizar. Qual sua opinião sobre a área de sistemas complexos?
Sistemas complexos é um nome que, até agora, não foi definido rigorosamente. Lembro-me de que, quando nosso laboratório foi criado, alguns perguntaram por que não chamá-lo laboratório de sistemas complexos, pois a terminologia estava na moda. Mas fizemos uma escolha mais modesta e austera: Laboratório de Física Teórica e Modelos Estatísticos. Em Dresden [Alemanha], por exemplo, foi criado um Instituto Max Planck [para a Física] de Sistemas Complexos, possivelmente para convencer as autoridades a dar o dinheiro. Sistemas complexos são a nova fronteira agora. Há, nessa área, uma parte substancial de prosa semi-automática, uma inflação de vacuidades incrível. Certamente, há coisas muito interessantes, mas, como campo de atividade, diria que nela se fazem muitos trabalhos insignificantes. Digo que isso é como fazer turismo científico, que deve ser evitado. Claro, essa é minha opinião. Digo isso tendo em mente os jovens pesquisadores, que freqüentemente são pressionados a publicar, e, nesse campo, se publica com demasiada facilidade. Devemos dizer aos jovens para não fazer turismo científico. Que se concentrem em um problema, em uns poucos problemas, em vez de estudar 40 ao mesmo tempo. É uma corrupção do que a ciência deve ser, em minha opinião. Apesar de ser um generalista – alguém que luta contra a especialização, que acredita que um bom físico precisa de uma visão ampla e múltipla, que a física deve estender suas fronteiras e penetrar territórios que não são considerados tradicionalmente como pertencentes à física –, enfatizo que turismo científico não é o modo de se lutar contra a especialização.
No mundo macroscópico, o caos se manifesta em sistemas em que uma diminuta perturbação torna praticamente impossível prever comportamento futuro deles. O clima, talvez, seja o caso mais conhecido: uma pequena alteração aqui pode causar uma forte tormenta lá. Essas mesmas características estão presentes no mundo microscópico, quântico?
Para lhe dar uma resposta rápida, vou dizer que não. Mas por quê? Por causa dos tipos de lei que regem a mecânica quântica e, em particular, a equação de Schrödinger [equação, desenvolvida pelo físico austríaco Erwin Schrödinger (1887-1961), que descreve como um sistema quântico evolui com o tempo; seria o análogo da segunda lei da mecânica, F = m.a]. Isso pode ser visto comparando-se a versão clássica e a quântica do mesmo sistema. Se acompanharmos a evolução de um sistema clássico e, em certo momento, voltarmos atrás, ou seja, invertermos o tempo, não se chega ao ponto inicial. Ou seja, as leis são reversíveis em princípio, mas na prática não. Se fizermos a experiência equivalente em mecânica quântica, chegamos ao ponto inicial. Ou seja, essa instabilidade, que na mecânica clássica dá lugar ao que se chama caos determinístico, não ocorre na mecânica quântica.
Um desafio: como explicaria a estudantes do ensino médio o que é caos quântico?
Diria que há duas grandes vias pelas quais a física se desenvolveu: a mecânica clássica, que vem desde [o matemático e físico inglês Isaac] Newton [1642-1727], e a revolução quântica, que teve lugar no século passado e culminou na década de 1920. Para explicar a mecânica quântica, invoca-se muito a mecânica clássica, mas são teorias muito diferentes. Embora a mecânica quântica englobe a clássica, isso ocorre de modo muito sutil. Por exemplo, sabe-se que existe a teoria da relatividade restrita e a mecânica clássica pré-relativística. O limite entre uma e outra é muito simples [quando as velocidades são muitos menores que a da luz (300 mil km/s), a mecânica clássica recupera sua validade]. No caso da mecânica clássica e a mecânica quântica, o limite entre uma e outra é muito sutil e pede desenvolvimentos matemáticos igualmente sutis. Para que o grande público possa compreender, diria que uma teoria nova, para ser boa, deve englobar a teoria anterior. Em ciência, não é possível dizer: vamos jogar tudo no lixo para substituí-la por algo novo, porque já há muitas coisas que se adquiriram. Uma teoria melhor tem que englobar coisas anteriores. Nesse sentido, a mecânica quântica tem que englobar a clássica. Mas esse ‘englobar’ é um mecanismo muito sutil. Então, respondendo à sua pergunta, caos quântico é uma expressão que teria que ser substituída por ‘estudo de sistemas quânticos cujo análogo clássico é caótico’. Quanto à relação entre clássico e quântico, inclusive hoje há pessoas que têm opiniões muito diferentes. Há aqueles muito importantes, como [Freeman] Dyson ou Tony Leggett, entre outros tantos, que têm opiniões sobre a relação entre mecânica clássica e quântica muito distintas. Em parte, são opiniões que cada vez vão ficando mais precisas, porque antes havia algumas perguntas, questões muito teóricas que, agora, com o avanço dos métodos experimentais, já têm respostas. Mas até [o físico dinamarquês] Niels Bohr [1885-1962], um dos pais da mecânica quântica, diz coisas, nesse sentido, sobre as quais algumas pessoas concordam e outras não. Em minha opinião, uma das pessoas que têm tratado esse tema de forma mais profunda e menos especulativa é Leggett. Por sinal, um físico brasileiro, Amir Caldeira, [do Instituto de Física Gleb Wataghin, da Unicamp], escreveu um artigo juntamente com Leggett, relacionado essas questões. Esse trabalho teve uma repercussão muito grande.
É possível definir caos ondulatório sem fazer referência a um sistema clássico?
Acho que não. É uma questão opinável, discutível, mas acho que, se não invocamos a descrição clássica do sistema [baseada na mecânica newtoniana], não é possível falar em caos quântico. Por exemplo, há certas propriedades estatísticas dos níveis de energia [espectro] dos núcleos atômicos que apresentam características de sistemas caóticos – eu tenho formação, em parte, de físico nuclear. Tem gente que, abusando da linguagem, fala que o núcleo é caótico, apesar de ele não ter um equivalente clássico. Mas não diria que o núcleo atômico é caótico, não sem maiores qualificações. Em parte, esta é uma questão atual, porque o caos está muito na moda. Físicos que antes falavam simplesmente em propriedades estatísticas agora falam em caos. Porém, acho que isso é um abuso da linguagem.
O senhor já se interessou pela conjectura de Riemann [Bernhard, matemático alemão, 1826-1866, cuja conjectura, que trata da distribuição dos números primos, ainda não foi provada]?
Sim. Isso gerou muito interesse entre os matemáticos, que têm uma cultura distinta, são muito céticos enquanto não vêem demonstrações e, em geral, não se fiam muito em analogias. Mas os resultados obtidos [pelos físicos] nos últimos anos foram tão precisos que parte da comunidade matemática passou a ter grande interesse em estudar esses problemas.
O senhor escreveu recentemente um artigo com o pesquisador brasileiro Maurício Pato e Alberto Bertuola. Nele, usam a entropia de Tsallis [Constantino, pesquisador do CBPF] para construir um conjunto de matrizes aleatórias [cujos elementos são escolhidos aleatoriamente]. Portanto, o senhor deve ter alguma familiaridade com essa teoria controversa, que ficou conhecida como estatística de Tsallis. Qual sua opinião sobre ela?
O trabalho que fizemos tinha uma motivação muito antiga, nos chamados vôos de [Paul] Lévy [1886-1971], um probabilista francês, ilustre, que se antecipou muito à sua época e que estudou problemas que eram dominados por eventos raros, pouco freqüentes, mas que, com o passar do tempo, acabam dominando [o sistema]. Eu tinha um interesse antigo nesse tipo de problema, e resolvemos estudá-lo usando um método que é tradicional na teoria das matrizes aleatórias, definindo a quantidade de informação com a fórmula de Tsallis. Estudos feitos em alguns países, utilizando a ‘entropia’ de Tsallis, têm sido muito criticados. Não me interesso muito por esses temas e, arriscando ser descortês, diria que meu conceito não é favorável.
Entrevista concedida a
Raúl Oscar Vallejos
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (RJ)
e Cássio Leite Vieira
Ciência Hoje/RJ