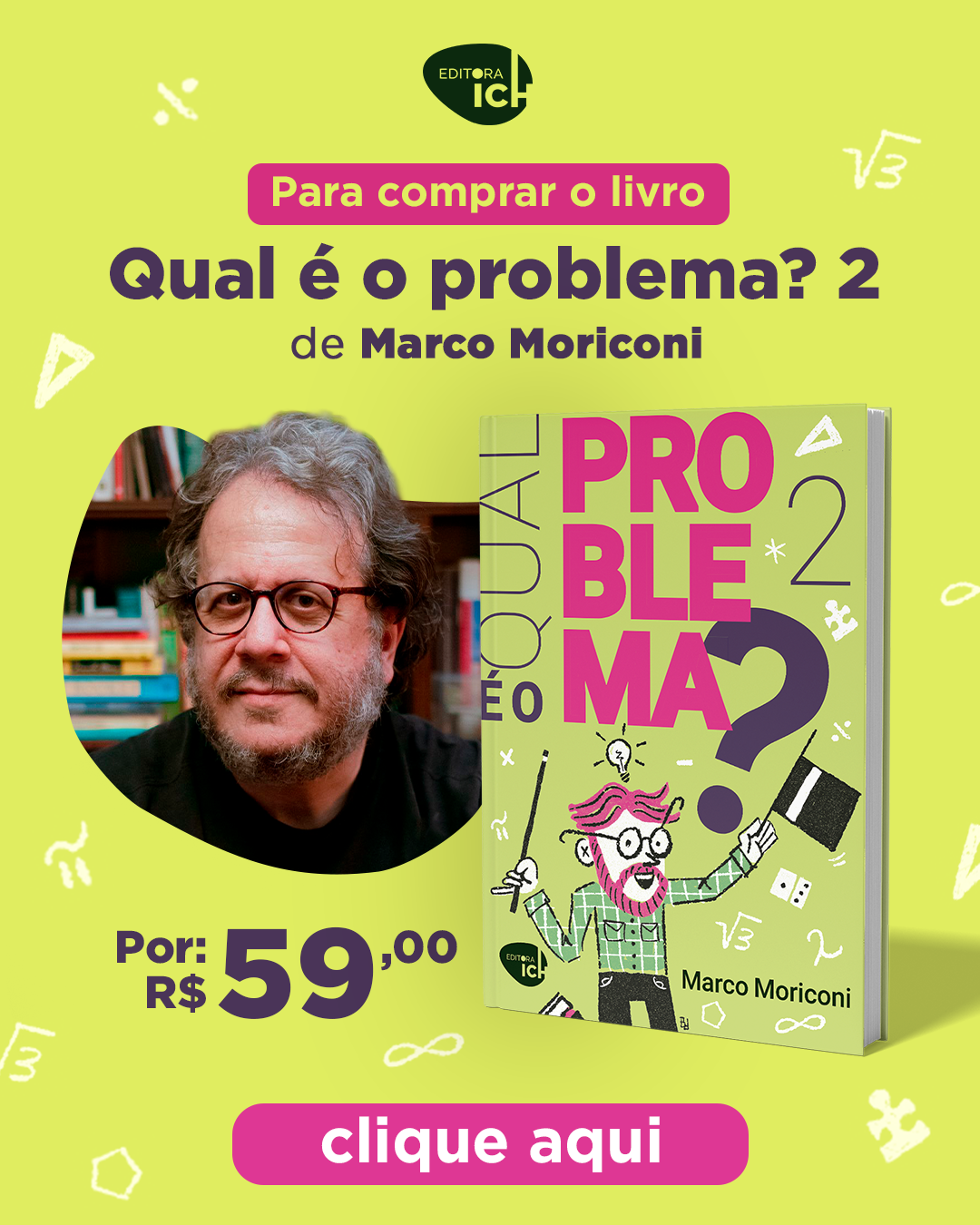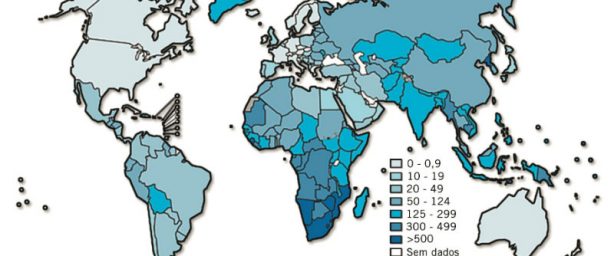Um dos mais famosos vaticínios sobre o ‘futuro’ da fotografia foi feito por Lazlo Moholy-Nagy (1895-1946), na década de 1920, nos tempos heroicos do modernismo: “O analfabeto do futuro não será quem não sabe escrever, e sim quem não sabe fotografar”. Era uma previsão a respeito do lugar que a imagem técnica iria ocupar em nossa civilização. Mas era também uma frase de efeito para justificar seu projeto de tornar o ensino de fotografia requisito básico na formação de artistas gráficos, designers e arquitetos.
Poucos anos depois, em 1931, no livro Pequena história da fotografia, Walter Benjamin (1892-1940) fará uma revisão radical desse enunciado, perguntando-se: “Mas um fotógrafo que não sabe ler suas próprias imagens não é pior que um analfabeto?”
O termo que desaparece de uma sentença para a outra é exatamente ‘o futuro’. De Moholy-Nagy a Benjamin, o ‘futuro’ deixa de ser o tempo vindouro em que viveria o analfabeto e torna-se o próprio objeto da leitura. O analfabeto agora é o fotógrafo que não sabe ler o futuro nas próprias imagens; o futuro que ali se infiltra, escreveu o filósofo, em “minutos únicos” que só reconhecemos agora, olhando para trás.
A capacidade de ler o futuro era algo que se exigia dos historiadores também. Estes, pensava Benjamin, eram profetas com os olhos voltados para trás. Nos vestígios dos acontecimentos, não deveriam ver apenas inscrições do passado, mas fragmentos cintilantes de futuro, sonhos não realizados, premonições cujo sentido só seria apreendido tardiamente. O tempo em que vivem fotógrafos e historiadores – ou os fotógrafos-historiadores imaginados por Benjamin – é similar ao tempo dos adivinhos. É um tempo premonitório, sempre ‘contemporâneo’. Somos tomados pela experiência desse tempo como uma interrupção, como uma carga explosiva nas entrelinhas de nossas vidas.

- Para Walter Benjamin, historiadores eram profetas com os olhos voltados para trás. Nos vestígios dos acontecimentos, não deveriam ver só inscrições do passado, mas fragmentos cintilantes de futuro, cujo sentido seria apreendido tardiamente. (Wikimedia Commons)
Vejamos um exemplo prosaico, que o próprio Benjamin nos oferece em Rua de mão única. Há esse objeto que perdemos (um chaveiro, um bilhete), mas cuja imagem nos ocorre junto com a convicção de que, na última vez em que o vimos, tínhamos já a certeza de que se perderia. Sim, faz dias que ele zombava de nós, tinha um “halo”, uma “tristeza em torno dele, que o traía”. Não é como uma fotografia que ele ressurge agora, na minha lembrança? Agora, quando é tarde demais, a despeito de todas as nossas premonições? Sobressaltos como esses, ensina Benjamin, são como “pausas silenciosas do destino, que só tardiamente percebemos que continham o germe de uma vida inteiramente diversa daquela que nos foi concedida”. Previsões que dirigem ao futuro do pretérito.
Album da minha avó
Quando uma fotografia está pronta para realizar sua viagem rumo ao futuro? Quando chega a nossa vez de adivinhá-la? Minha avó trouxe da Lituânia para o Brasil seu álbum de fotos de mocinha, suas recordações de adolescente. O marido já vivia no Rio de Janeiro, depois de ter trabalhado por um ano no Panamá. Ela não se deu ao trabalho de legendar nenhuma das imagens do álbum, pois devia sabê-las de cor. Hoje, são um mistério para mim.
Essa fotografia acima, feita em Berlim, entre 1911 e 1912, sempre foi a que mais me fascinou. Minha avó costumava passar as férias na Alemanha antes da Grande Guerra, onde tinha parentes. Cheguei a imaginar que o prédio correspondesse à célebre farmácia que pertenceu à irmã. A mesma onde, menos de 30 anos depois, o cunhado iria suicidar-se com cianureto quando a polícia veio buscá-lo para deportação.
Porém, ao que tudo indica, é um restaurante. A família do proprietário e os vizinhos vieram ter à calçada para aparecer na foto. Em todos os andares, há gente que posa nas janelas. Terão sido chamadas aos gritos da rua? Ou uma das crianças percorreu o edifício avisando que o fotógrafo havia chegado? Terá sido um desses meninos irrequietos, sem paciência para posar por tempo suficiente?
Ao contrário do elegante cavalheiro de chapéu-coco, que jamais se permitiria a indignidade de uma figura borrada, o guarda da rua fez questão de não interromper a caminhada vigilante, garantia da tranquilidade dos cidadãos. Será que receberam cópias da foto? Ou foi-lhes suficiente imaginar que, um século depois, alguém iria perguntar-se sobre seus sonhos?
Todos parecem felizes e tranquilos na tarde de verão, particularmente o proprietário, cujo sorriso se entrevê, por trás do bigode, enquanto apoia a elegante bengala na calçada. Ao lado, seu pai ostenta uma pesada corrente de relógio no colete. Logo irá certificar-se de quanto tempo o fotógrafo molengo roubou-lhe aos negócios.
Em muitas fotografias de Augusto Malta (1864-1957), no Rio de Janeiro, feitas na mesma época, é possível ver famílias inteiras posando diante de suas casas e lojas. O fotógrafo da prefeitura, diz-se, usava desse subterfúgio para disfarçar que a verdadeira intenção da imagem era avaliar a situação dos imóveis destinados à demolição. Tudo para o bem da reforma urbana da capital. Quem sorriria condescendente para um fotógrafo que anunciava sua destruição?
Quando minha avó colocou essa fotografia em seu álbum de menina, divertindo-se talvez com o tio bigodudo e sonhando com as próximas férias na cidade grande, nenhum dos habitantes do número 52 podia imaginar que, em pouco mais de três décadas, Berlim, com todos os seus restaurantes e farmácias, estaria em ruínas. E que todas essas crianças estariam mortas, nos campos de batalha ou de extermínio. E, no entanto, ainda hoje, cada uma das 36 janelas desse edifício – janelas que se abriram para um fotógrafo que chegara com a luz do dia – guarda uma história por ser contada.
De cada fotografia emana a radiação ultravioleta que glosa o texto de nossas vidas. Em cada uma delas, inscreve-se o nosso destino. E o nosso destino não é o que nos tornamos ou o que deixamos de ser. Nosso destino é aprender a ler.
Mauricio Lissovsky
Escola de Comunicação
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Autor de Pausas do destino: teoria, arte e história da fotografia
Texto originalmente publicado no sobreCultura 17 (outubro de 2014).