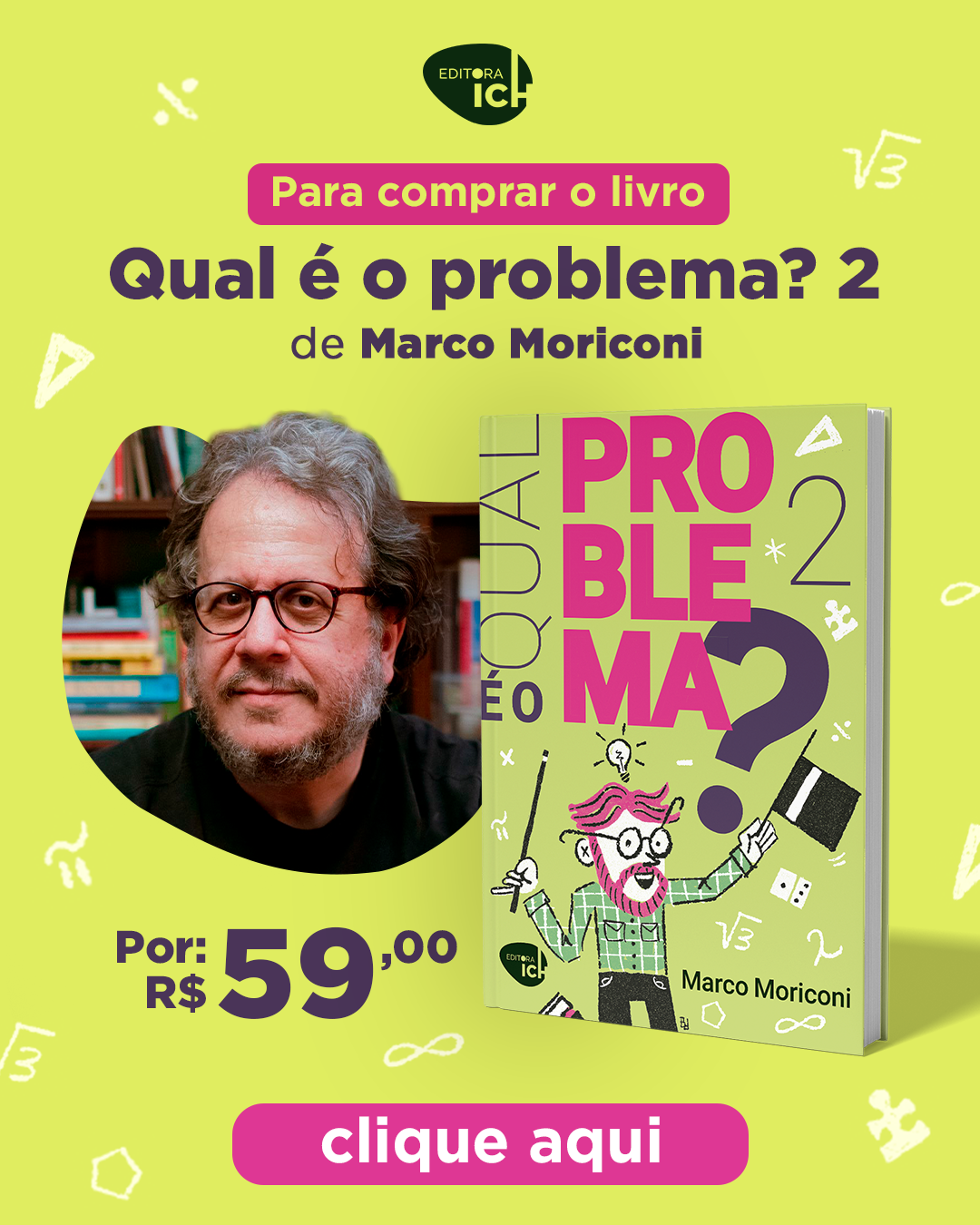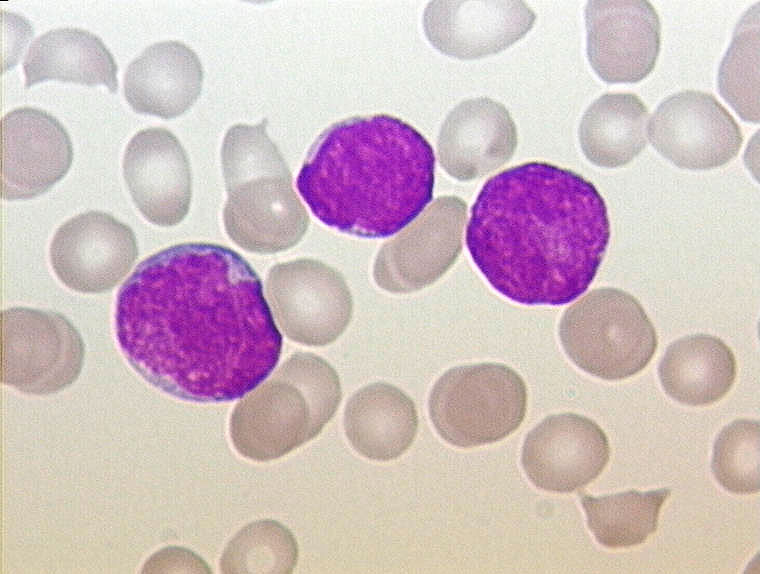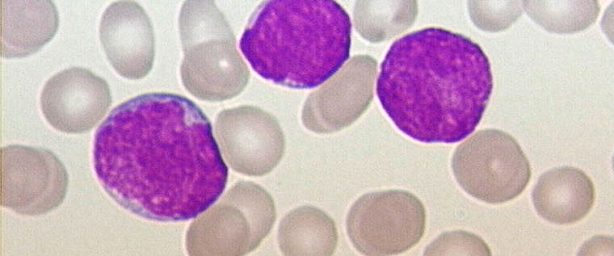Em junho de 1944, Robert Antelme, membro da Resistência francesa, foi preso pela Gestapo e deportado para o arquipélago alemão dos campos de concentração e extermínio. Sobreviveu a Buchenvald e Auschwitz e, já no fim da loucura do nazismo, foi reconhecido por François Mitterrand, em visita de representação do governo de Vichy, no campo de Dachau, o que lhe valeu a repatriação para a França e posterior libertação, com o fim da guerra.
Sua sobrevida ao horror dos campos deixou-nos como legado uma obra-prima, um livro de memórias dessa experiência, A espécie humana, publicado em 1957. Obra essencial para tentar compreender o que o filósofo Maurice Blanchot, em comentário iluminado ao livro de Antelme, designou como “experiência-limite”, aquela na qual se apresenta a seguinte aporia: “O homem é indestrutível e, apesar disso, pode ser destruído”.
Mais do que um livro sobre a “experiência concentracionária”, para usar a expressão de outro sobrevivente dos campos, David Rousset, trata-se de algo que diz respeito à ‘espécie humana’ em sua universalidade. Uma passagem, entre tantas, do livro de Antelme bem indica seu alcance universal. Vejamos.
Um casal de judeus idosos acaba de chegar a Buchenwald e é brutalmente espancado por um kapo. A estupidez do gesto é agravada pelo fato de o agressor usar a roupa comum dos internos no campo. Em suas vestes não estão visíveis as marcas típicas daqueles que exercem autoridade e controle sobre as pessoas comuns. Os idosos, por sua vez, pertencem a um universo social marcado pelo que o sociólogo alemão Norbert Elias designou como o “processo civilizador”.
Tal processo, que – sem plano prévio – constitui o espaço social do mundo europeu, resultou de longa e lenta acumulação de práticas e valores que restringem a dimensão violenta das interações humanas. Um dos aspectos centrais dessa reorganização da presença da violência na vida social foi o da concentração, nas mãos dos Estados, do monopólio do uso legítimo da força.
Da mesma forma, o uso da força por parte de indivíduos ou grupos, não legalmente intitulados para tal, aparece como incompatível com a segurança individual e coletiva dos cidadãos. Desarmamento social e monopólio do uso legítimo da força por agentes públicos aparecem, pois, como requisitos de previsibilidade e da expectativa razoável de que a vida social implica alguma medida de proteção dos indivíduos.
O casal de idosos mencionado é um exemplo típico de habitantes do que chamarei de “planeta Elias”. Explico: diante do espancamento inaudito, praticado por um sujeito sem marcas de identidade visíveis, a aproximação de um homem rigorosamente uniformizado representou, para as vítimas, o caminho para algum alento. Esse homem usava uniforme negro impecável, com várias insígnias, entre as quais se destacava a pequena caveira no quepe. Tratava-se, como se pode deduzir, de um oficial das SS.
O hábito de recorrer a autoridades públicas para garantir a ordem, tão típico de europeus “civilizados” (no sentido de Norbert Elias), fez com que o casal apelasse ao personagem contra a violência sofrida. Por desconhecer o significado da fatiota, o casal, ao que tudo indica neófito nos hábitos nazistas, assumiu a própria ideia de uniforme como indício de que quem o usa é, em alguma medida, um agente de racionalidade e de restauração de ordem. O resultado do apelo, porém, foi o usual: o pior possível. Mais espancamento e, por fim, eliminação da vida.
A universalidade do episódio está no fato de que esta não é uma história restrita aos campos de extermínio. Quantos de vocês se sentem seguros, e com a sensação de proteção restaurada, quando interagem com agentes públicos – policiais, em particular? Não estamos no campo de extermínio, mas é inevitável a sensação de que aqueles que supostamente nos protegem são, com assustadora frequência, os que fazem com que necessitemos de proteção.
Renato Lessa
Departamento de Ciência Política,
Universidade Federal Fluminense e
Instituto de Ciências Sociais,
Universidade de Lisboa