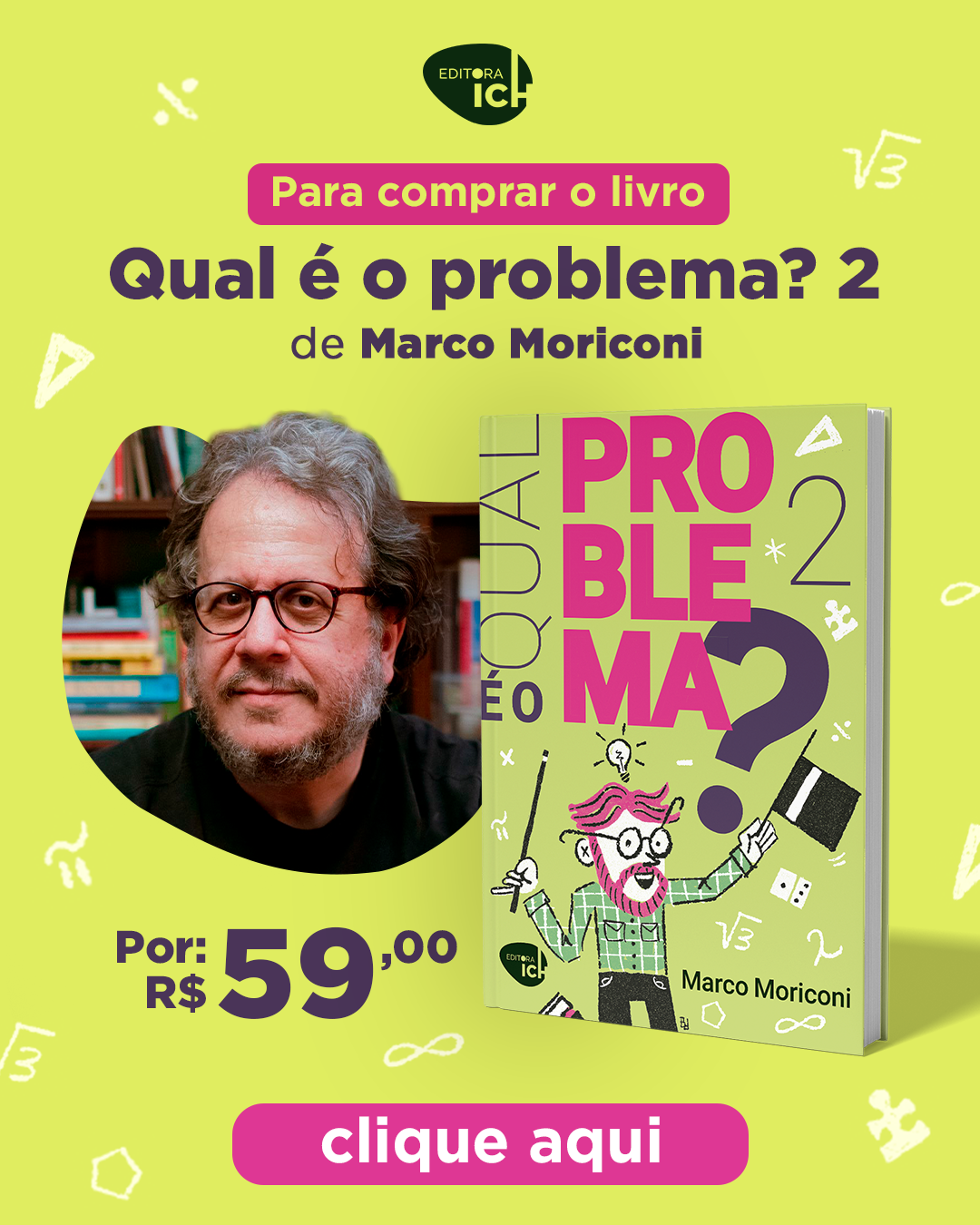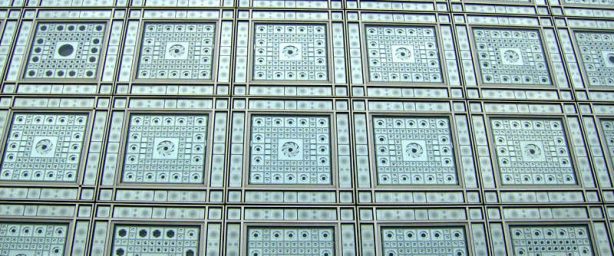Ali vive um poeta. E também um historiador. Naquele apartamento primorosamente decorado com temas tribais, que dividem espaço com as mais variadas formas de arte africana, não restam dúvidas de que Alberto da Costa e Silva é um apaixonado pelo continente a que dedicou boas décadas de sua vida. A história da África permaneceu esquecida por muitos séculos. E, no Brasil, talvez nenhum outro autor tenha se dedicado com tanto entusiasmo ao resgate desse legado que definiu parte significativa de nossa cultura.
Ele foi também diplomata. A serviço, viajou para destinos pouco usuais – que seriam jornadas de fundamental importância para alcançar o entendimento profundo de um continente outrora visto como terra de apenas mazelas, tristeza e desolação.
Pelo conjunto de sua obra, Costa e Silva ganhou este ano o Prêmio Camões. A láurea, concedida pelos governos de Brasil e Portugal, homenageia escritores que tenham contribuído notavelmente para o enriquecimento do patrimônio literário da língua portuguesa. Entre os já agraciados com a mesma honraria figuram nomes como Dalton Trevisan, José Saramago, Lygia Fagundes Telles e outros luminares de nossa literatura. A seguir, esse africanista compartilha algumas de suas lembranças. E permite entender a razão pela qual, segundo alguns, ele é o mais africano dos brasileiros.
 Por um lado, o senhor é escritor e poeta; por outro, publicou diversos estudos a respeito do continente africano. Há um diálogo entre sua atividade na literatura e sua produção no campo da história?
Por um lado, o senhor é escritor e poeta; por outro, publicou diversos estudos a respeito do continente africano. Há um diálogo entre sua atividade na literatura e sua produção no campo da história?
É claro que há um diálogo. Em nosso tempo, as pessoas esquecem que a história não é apenas uma ciência. Ela é também uma arte literária, um gênero literário. Na verdade, a história exige o exercício da imaginação. Não basta analisar objetos e documentos. A história procura reconstituir o passado e, para isso, o historiador precisa do exercício da imaginação, que é, em certo sentido, um exercício de poesia. A poesia acompanha, e muito bem, o fazer histórico. No caso da história da África, campo de estudo a que me dedico há tantos anos, esse enlace é absolutamente necessário.
Pois grande parte, ou a maior parte dela, não nos chegou por documentos escritos. E sim por tradições orais – que sofrem alterações de geração em geração. Cada geração reinterpreta a história e refaz suas tradições. Parte da história africana também nos chegou por depoimentos de viajantes estrangeiros. Tudo isso faz com que a presença da poesia seja ainda mais forte. Da poesia como imaginação, da poesia como recurso.
Historiadores precisam escrever bem. É quase uma obrigação. De fato, muitos dos grandes historiadores do passado também foram grandes escritores. Preste bem atenção: não há nada que impeça um cientista de escrever bem. Aliás, sempre invejei a precisão, a clareza, a limpeza com que certos zoólogos e naturalistas descrevem os mamíferos, as aves, os répteis… É algo belíssimo! São qualidades literárias que, esperadas nos grandes escritores, também são comuns nos grandes cientistas.
O senhor disse, certa vez, que para entender o Brasil é preciso entender a África. Por quê?
Por um motivo muito simples: o escravo não nasceu no navio negreiro. Quando foi lá colocado, à força, trazia consigo seus costumes, seus hábitos, sua maneira de viver e entender o mundo. Trazia sua história. Os africanos chegaram aqui em tamanha quantidade, que havia tanto aquele que sabia fazer uma casa quanto aquele que sabia explorar o ouro e aquele que sabia cultivar o inhame. Trouxeram técnicas, maneiras de pensar. Suas crenças, assombrações, cantigas, maneiras de sentar, servir, comer, caminhar, comportar-se, formar família… Tendo sido eles tão numerosos, como entender o Brasil sem compreender como eram as Áfricas, do outro lado do Atlântico? A presença africana, assim como a presença indígena em nossa cultura, está nas coisas mais essenciais.
Ainda assim, no Brasil, o currículo escolar muitas vezes ignora a maior parte da história da África e de nossos povos nativos. Por que, em nossa educação, temos dado muito mais ênfase ao legado europeu?
Porque nós nos queríamos europeus. Achávamos que éramos europeus exilados nos trópicos. Homens de ciência e de alta cultura, porém, sabiam que não era assim. Por três séculos, o predomínio da Europa no mundo todo foi tão evidente que ela praticamente impôs uma europeização do mundo. Se formos à China, hoje, veremos gente de paletó e gravata. Se formos a uma sala de concerto no Japão, ouviremos Beethoven. Essa europeização também aconteceu no Brasil. Muitos iam estudar na Europa, e acabamos bastante atrelados aos padrões europeus.
O senhor foi diplomata por quatro décadas e viveu na África durante parte significativa de sua carreira. Que vantagens ou desvantagens a ótica do diplomata pode oferecer ao trabalho do historiador?
Tive muita sorte. Se não tivesse sido diplomata, dificilmente teria enveredado pela história da África. Essa disciplina não existia no Brasil: todo mundo achava que a África não tinha história! Até um grande historiador inglês, Hugh Trevor-Roper [1914-2003], chegou a declarar isso. Aos meus 16 ou 17 anos, encontrava muito pouca coisa sobre esse continente nas livrarias e sebos.
Era como se a África praticamente não existisse. Até que entrei no Itamaraty, em 1957. Lá tive a oportunidade de acompanhar os processos de descolonização, e encontrei na biblioteca da instituição diversos autores dos séculos 15, 16 e 17 que tinham feito viagens exploratórias nas costas africanas. Eram viajantes, homens de saber com grande fome de conhecimento. E isso me ajudou muito. Mas o que me ajudou mesmo foi quando, em 1960, fui trabalhar em Lisboa. Lá, comecei a descobrir nas livrarias a riqueza de obras sobre o continente africano.
Se eu não tivesse sido diplomata, talvez não tivesse me interessado por esse tema. Fui pela primeira vez à África em 1960 – para a independência da Nigéria, que aconteceu no dia 1° de outubro. No fim desse mesmo ano, fui para a Etiópia. E comecei então a viajar pelo continente. Senegal, Costa do Marfim, Togo, Angola, Camarões, Gabão, Libéria, Serra Leoa, Sudão… Isso me deu a possibilidade de comparar o que eu havia lido com o que estava vendo. Embora o mundo tivesse mudado, era possível situar as paisagens, situar as pessoas. Fui embaixador em Lagos e depois na República do Benim. Pude viver a África.
Eu e minha mulher adorávamos viver lá. Tenho saudades. Nossos dias africanos foram cheios de interesse, cheios de vida e tudo isso foi muito importante para que eu pudesse escrever como escrevi: com paixão. É preciso fazer as coisas não apenas bem feitas. Mas emotivamente bem feitas.
O senhor tem dois livros de literatura infantojuvenil (Um passeio pela África, publicado em 2006; e África explicada aos meus filhos, de 2008). O que o motivou a produzir obras para esse público?
Foram dois livros escritos por encomenda. O primeiro, pequenininho e muito bem ilustrado, é para crianças de 10 ou 11 anos de idade. É a história de uma viagem por algumas cidades da África atlântica – a obra mostra como é diversa e interessante a vida nesses países, e destaca que eles não são todos iguais. O segundo livro, é parte de uma coleção para explicar determinados assuntos para rapazes e moças. São títulos como Idade Média explicada aos meus filhos, Teatro explicado aos meus filhos… E a proposta era que eu escrevesse África explicada aos meus filhos. Tentei explicar aspectos essenciais do continente africano: geografia, ocupação humana, antigos impérios, colonização europeia, descolonização, apartheid, entre outros assuntos. Quis desfazer a ideia de que a África é um continente só de mazelas, tristeza, pobreza e desolação.
O continente africano é vastíssimo. É possível falar em uma ‘literatura africana’? Há traços comuns que podem dar alguma unidade à produção literária daquele continente?
A literatura africana é extremamente rica. Mas veja: a literatura africana de língua inglesa é diferente da literatura africana de língua francesa; e diferente da literatura africana em língua portuguesa. Em geral, não há uma unidade cultural africana. Mas há uma unidade ampla. Como você se refere à literatura europeia, por exemplo? Ela é a soma da inglesa, com a francesa, com a russa, com a alemã e por aí vai. São todas diferentes, mas há um conceito globalizante que nos permite compreender todas essas literaturas como parte de um contexto maior.
Na realidade, as literaturas não devem ser definidas por países ou continentes. Isso é um equívoco. Elas devem ser definidas por suas línguas. Assim nos situamos melhor. Na África, há autores célebres. O nigeriano Chinua Achebe (1930-2013) é um deles. A literatura africana de língua portuguesa também é riquíssima: em Cabo Verde, temos Germano Almeida; em Moçambique, Mia Couto; e, em Angola, Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos, conhecido como Pepetela. Eu poderia citar dezenas de nomes, mas não vou ficar fazendo lista de autores.
Este ano, o senhor foi laureado, pela sua obra literária, com o Prêmio Camões. O que achou da homenagem?
Esse prêmio foi algo totalmente inesperado. Mas soube de algo que me deixou muito feliz: quando os jurados analisavam os candidatos e alguém mencionou o meu nome, os africanos disseram algo como “Ei, esse é dos nossos”. Sentiram que estavam premiando um brasileiro que também era africano.
Alguns poemas seus foram musicados pelo compositor Cláudio Santoro (1919-1989). Qual foi sua sensação ao ter sua obra transcrita para outra linguagem artística?
Cláudio Santoro e eu fomos bons amigos. Um dia, ele me convidou para um concerto no Teatro Nacional, em Brasília [DF]. Não pude ir, por algum motivo qualquer. No dia seguinte ele me ligou – e me disse que aquela foi a estreia internacional de três canções que ele havia feito sobre poemas meus [risos]. Só pude ouvir anos depois – ele já tinha morrido. Minha impressão a respeito da obra? Não senti nada de especial [risos]. Achei normal.
A transcrição de uma arte para outra deve ser vista com naturalidade. Cláudio Santoro foi sem dúvida um grande compositor. E sofreu muito a marginalização que compositores sérios no Brasil vêm sofrendo nas últimas décadas. Ele era de um interesse cultural muito amplo. A propósito, é difícil encontrar um grande criador que só se interesse por aquilo que faz. Na ciência há vários exemplos disso. O físico brasileiro Mário Schenberg [1914-1990] era ativo crítico de arte. Dizem que o físico Albert Einstein [1879-1975] era bom violinista também. É empobrecedor reduzir as pessoas a um só ofício. Temos em geral muitos interesses – não necessariamente para o fazer, mas para o apreciar e mesmo para o sentir.
Para os próximos anos, algum projeto literário ou intelectual em vista?
Sim: escrever o terceiro volume da minha história da África. O primeiro é A enxada e a lança: a África antes dos portugueses. O segundo é A manilha e o libambo: a África e a escravidão, de 1500 a 1700. Agora estou escrevendo o último volume.
São 22 capítulos previstos. Já escrevi 10. A ideia é falar sobre o período entre 1700 e 1914. Depois disso, é história contemporânea, e nessa área eu não me meto – pois não tenho a perspectiva necessária para estudá-la. Previsão para finalizar esse terceiro volume? Não sei. Espero não morrer antes. Estou com 83 anos. Vamos ver.
Texto originalmente publicado no sobreCultura 17 (outubro de 2014).