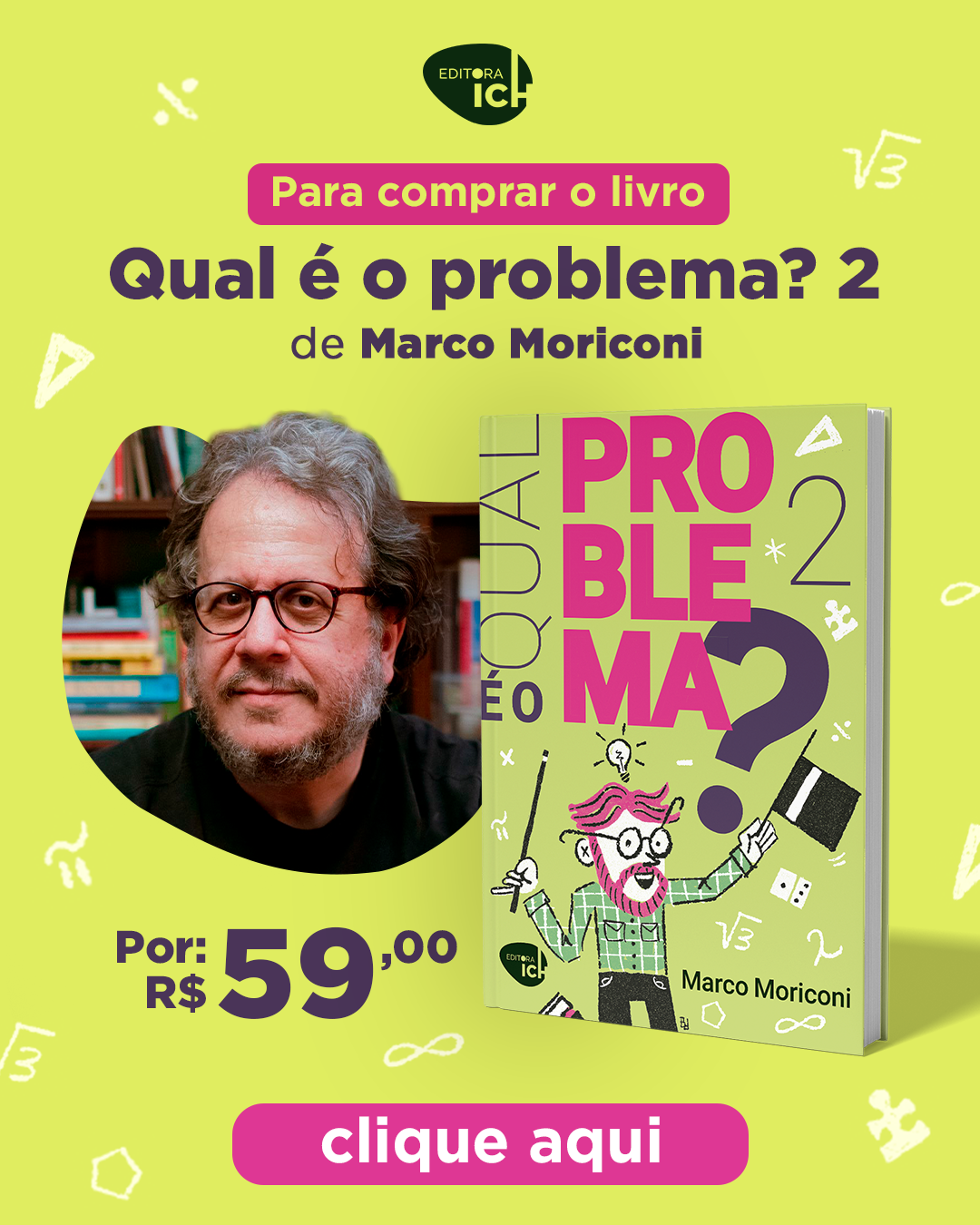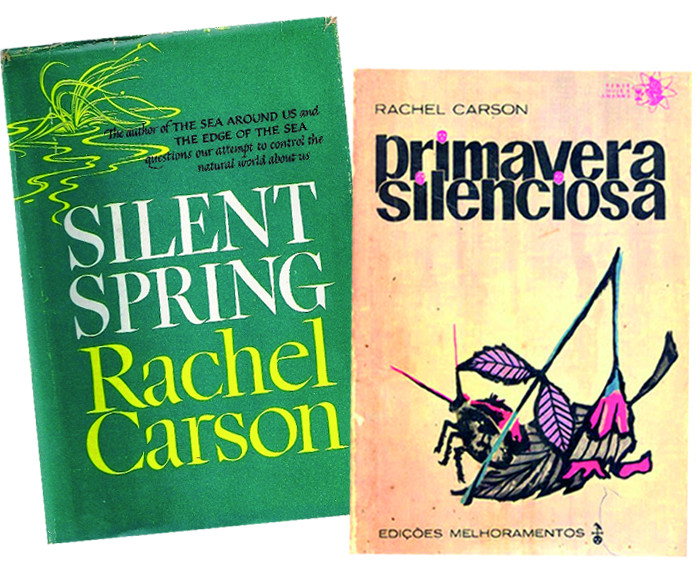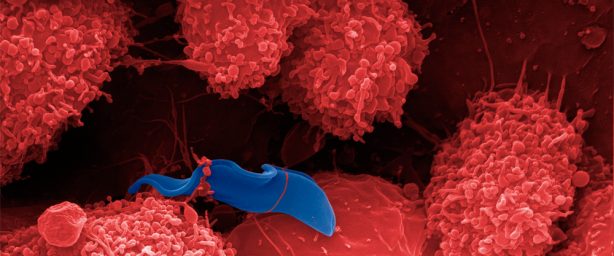Igarapé Bom Jardim, centenas de quilômetros rio Xingu acima desde Altamira, Pará. O ano era 1988. A viagem em motor de centro levava de três a quatro dias, a depender da estação. Na seca, que vai de maio a outubro, navegava-se com dificuldade. As pretas pedras porosas despontavam; ao se chocar contra elas, a corrente d’água gerava torvelinhos. Cabos de aço e catraca ofereciam por vezes o auxílio necessário para subir a corredeira. Ao longo da viagem, avistavam-se algumas poucas casas ribeirinhas incrustadas na margem, sobras de um tempo vivido nos seringais ou no marisco do gato (eufemismo para a caça à pele de onça). Tudo isso, hoje, é parte do passado.
Naquela época, não podia antever isso. Retirei minha câmera da sacola. Cliquei uma só vez. Tinha poucos negativos e acreditava no instante decisivo de Henri Cartier-Bresson. Deveria ter clicado uma vez mais, movendo-me à esquerda; não cortaria a ponta do arco e melhor separaria as figuras humanas da foto. Não cliquei. Estava exausto. Tínhamos passado o dia caçando e repousávamos agora no início da trilha. A aldeia ficava a menos de uma hora dali e contava uma centena e meia de habitantes contatados em 1984.
Os paracanãs são um povo tupi-guarani, originário da bacia do Tocantins. Na década de 1960, migraram para leste, em busca de matas ainda não ocupadas por não indígenas. Caçadores especializados em grandes mamíferos terrestres, utilizavam flechas de ponta lanceolada de bambu, como se vê na foto. Mas aquele dia fora infrutífero: nem anta, nem porco, nem mesmo uma paca. Myrywa acocorava-se em silêncio diante de um solitário jaboti. Não sei bem quando projetei nessa imagem o pensador de Auguste Rodin, um Rodin nas selvas, mas foi assim que a guardei em minha mente. O que pensava Myrywa? No que eu pensava? No escultor francês, na pouca luz ou no corpo exausto do andar desastrado na mata?
Os paracanãs caçam hoje com cartucheiras, o mogno foi roubado, as fazendas ocuparam, os sem-terra invadiram, o rio Xingu vai ser barrado. O que será das pedras porosas, dos torvelinhos, das corredeiras? Pouco depois desta foto ser tirada, índios e ONGs barraram a construção das usinas que formariam o Complexo Hidrelétrico do Xingu, conforme o Plano 2010 da Eletrobras. Era fevereiro de 1989, Altamira encontrava-se tomada por centenas de índios; na vanguarda, os cayapós. Os técnicos da companhia apresentavam seus números, gráficos e diagramas (a isso chamam realidade, presas que são de uma estranha forma de fetichismo sem imagem ou imaginação). Hoje, engenheiros da Eletrobras afirmam que o Complexo teria causado um desastre inaudito – do que se conclui que, afortunadamente, fomos salvos pelos índios! As contas da tecnocracia não valiam o terçado prateado da índia Tuíra, cuja lâmina esfriou a face do presidente da Eletronorte.
Eterno retorno. A usina de Babaquara transfigurou-se em Belo Monte (desta vez não haverá desastre, dizem; a tecnologia é de ponta, dizem). Altamira inflamada já inchou, o dinheiro do contribuinte esvai-se pelos ralos público-privados, o código (des)mata, os índios… No que pensava Myrywa? Rodin concebera o seu pensador como guardião dos portais do Inferno, de Dante Alighieri: “Deixai toda esperança, ó vós que entrais”. Teria Myrywa pressentido isso ao se acocorar naquela tarde crepuscular na “selva selvagem, rude e forte”*? Esperemos que não.
*Na tradução de Italo Eugenio Mauro para a edição de A divina comédia da Editora 34 (1998).
Carlos Fausto é antropólogo e professor do Museu Nacional, da Universidade Federal do Rio de Janeiro