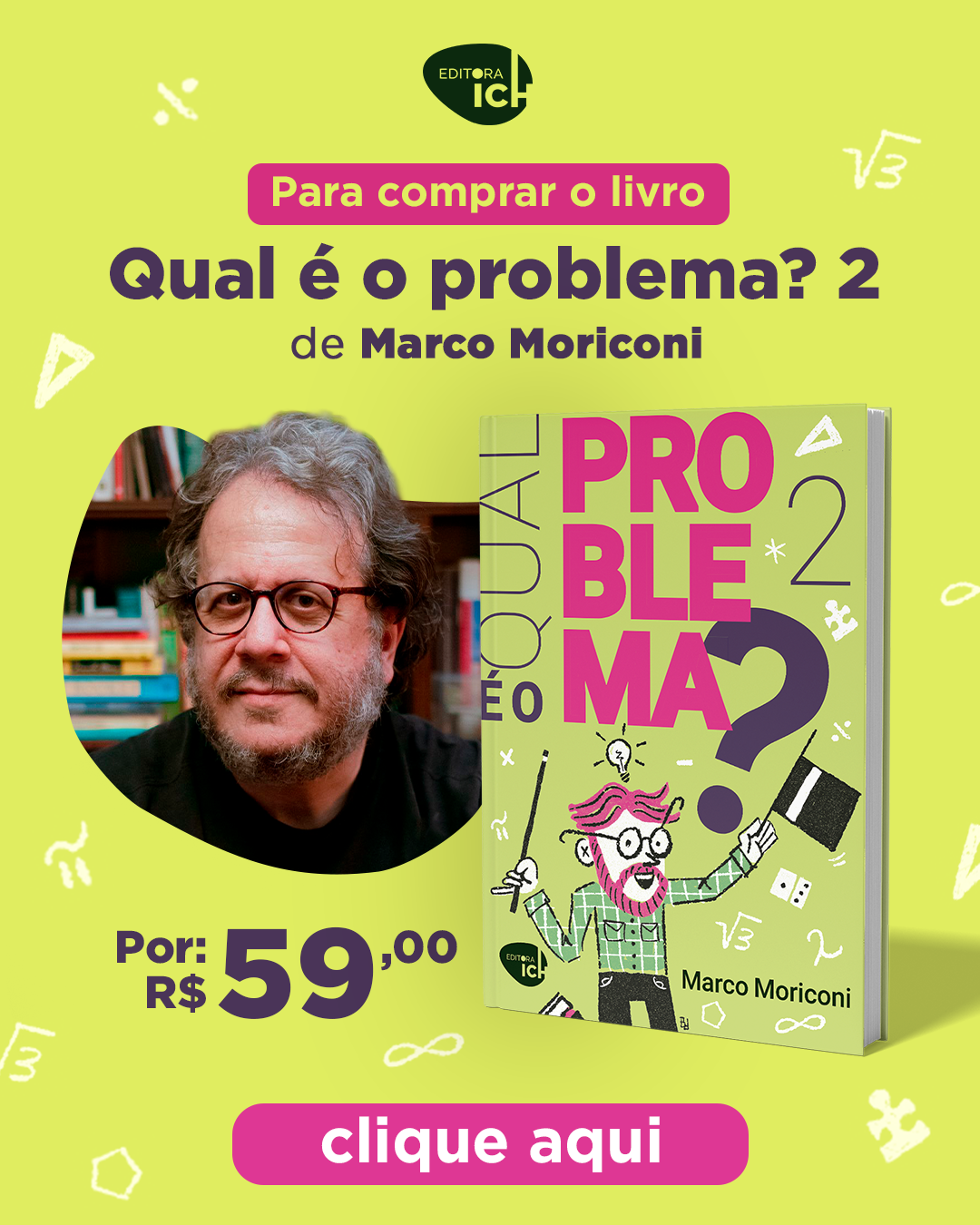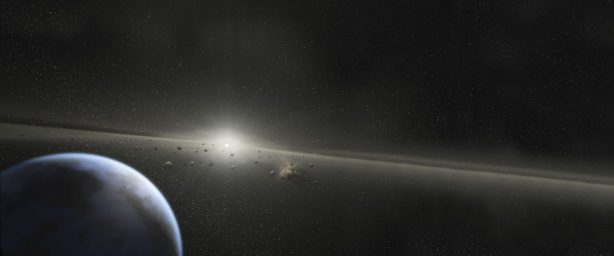Semelhança notável entre Brasil e Austrália? Sim: um passado colonial violento, no qual populações nativas foram exterminadas ou relegadas à margem da sociedade. A história dos aborígenes foi e tem sido inclemente, mas os povos originários da terra do canguru encontraram uma forma interessante de se inserir no mundo dos ‘brancos’. Superando um quase extermínio, as etnias que ainda vivem nos rincões do deserto australiano, ou que já habitam centros urbanos, mostram ao mundo a força de sua arte – em cores vibrantes e imagens figurativas ou abstratas que, nas últimas décadas, vêm conquistando espaço nos mais refinados circuitos da arte contemporânea.
A estética aborígene tem, hoje, lugar garantido na Christie’s e na Sotheby’s – as duas mais sofisticadas casas de leilão dedicadas ao mercado milionário da arte. E também no Musée du Quai Branly, em Paris, onde diversos espaços exibem intervenções permanentes idealizadas por artistas da etnia tradicional da Austrália.
No Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, na Bienal de Veneza, em diversos locais da Europa e no Japão são comuns exposições de aborígenes da Austrália. “Ter nossa arte em museu de branco é como mostrar ao branco a força de nosso povo”, dizem os anciãos do deserto.
Mas, para um povo outrora oprimido e hoje marginalizado, como explicar tamanha projeção artística internacional? Quem se debruçou sobre o tema foi a antropóloga Ilana Goldstein, que, na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), dedicou seu doutorado ao entendimento do processo que levou os aborígenes da invisibilidade aos holofotes da arte contemporânea.

- Mosaico feito por Michael Jagamarra Nelson, em frente ao Novo Parlamento, em Camberra, na Austrália. (foto: Ilana Goldstein)
Renascimento aborígene
Foram quatro meses de imersão na Austrália, em 2010. “Descobri lá um sistema incrível de produção, divulgação e comercialização da arte nativa”, conta a antropóloga.
Em 1971, o professor de artes plásticas Geoff Bardon visitou um pequeno povoado e se encantou com as belas pinturas ritualísticas que mulheres e homens faziam sobre seus corpos e na areia. E sugeriu: por que não transferir essas representações pictóricas para um suporte durável? Apresentou aos aborígenes, então, telas e tinta acrílica.
Desde então, dezenas de cooperativas artísticas indígenas foram formadas por toda a Austrália. São geridas pelas próprias lideranças comunitárias, que – contando com funcionários ‘brancos’ contratados – administram atividades como fornecimento de material, revenda dos trabalhos, organização de exposições e repasses de verba que o governo australiano destina aos projetos. “É um modelo híbrido entre livre mercado e políticas públicas de fomento à produção artística”, explica Goldstein.
Há editais, prêmios e linhas de financiamento para garantir a preservação das artes nativas australianas. Quanto aos museus do país, eles não apenas garantem espaço para as artes tradicionais como também contratam, muito frequentemente, curadores de ascendência indígena. “Já que o contato parece inevitável, pelo menos os aborígenes se inserem na sociedade e no mercado a partir de uma atividade que faz sentido para eles.”
Gênese do contemporâneo
Na arte dos aborígenes há uma variedade de estilos e diferentes tendências. “Em muitos casos lembram o modernismo, o que, em parte, pode explicar o sucesso de mercado”, observa Goldstein.
Segundo ela, há variados movimentos artísticos aborígenes, engajados em pintura abstrata, figurativa, retratos de paisagem em aquarela, além de esculturas, gravuras e peças de fibra trançada. Cada etnia tem sua própria estética. Os melhores artistas costumam ser os mais velhos, pois a pintura tradicional requer muita sabedoria.
São representadas suas origens míticas e o conhecimento ancestral, em cenas que, aos olhos dos ‘brancos’, sugerem imagens oníricas. As pinturas, raramente assinadas, podem ser feitas a várias mãos. Membros da família costumam se envolver na tarefa – mas, para o mercado, apenas o artista de maior fama é apontado como autor. Pintam enquanto entoam canções, narram seus mitos, passam adiante regras morais e histórias de suas famílias e de seu povo.
“À medida que veio o sucesso comercial e de crítica, certos símbolos sagrados foram sendo progressivamente omitidos, mas muitos elementos da iconografia tradicional se mantêm, como os círculos concêntricos que representam fontes de água ou as pegadas de canguru”, conta a pesquisadora.
Eles sabem que aquela arte é para os ‘brancos’. E, mesmo assim, encontraram um equilíbrio entre as demandas do mercado da arte e a prática de rememorar ou recriar seus símbolos, canções e histórias tradicionais.
O mercado, aliás, tem sido promissor para os aborígenes da Austrália. Quadros de um artista jovem bem podem valer US$ 5 mil. Obras de Emily Kame Kngwarreye (1910-1996), uma artista anciã, valem de US$ 80 mil a US$ 100 mil (ela começou a pintar aos 80 anos, e o fez até o ano de sua morte, aos 86).
Já trabalhos de Clifford Possum Tjapaltjarri (1932-2002) atingiram cifras na casa dos US$ 2 milhões. “Os povos indígenas da Austrália têm na produção artística, hoje, sua principal fonte de renda, e utilizam-na como arma para conquistar visibilidade em uma nação cujo passado colonial é dos mais terríveis”, diz Goldstein.

- Artistas aborígenes da Austrália pintando de forma colaborativa. As pinturas são raramente assinadas e podem ser feitas a várias mãos. Mas, para o mercado, apenas o artista de maior fama é apontado como autor. (foto: Warlukurlangu/ Artists Aboriginal Corporation)
Espírito ancestral
Mesmo com obras valoradas por sedutoras cifras, artistas tradicionais da Austrália raramente enriquecem. O retorno financeiro da arte não é para um só indivíduo; mas sim repartido – como a carne de uma caçada – pelas redes de parentesco da comunidade.
Goldstein estudou duas delas: Yuendumu (no deserto central) e Yirrkala (ao norte do país). Na média anual, a primeira fatura US$ 3 milhões; a segunda, nada menos que US$ 5 milhões. Com o saldo constroem novas dependências para as cooperativas, adquirem bens de consumo ou medicamentos. “Em Yuendumu, parte da renda foi para construir uma clínica de hemodiálise”, diz Goldstein.
Hemodiálise? Explica-se: parte considerável da população aborígene é acometida por problemas renais. Por milhares de anos, esses povos se alimentavam da caça e raízes nativas. Hoje, consomem comida ‘civilizada’ – hambúrguer, refrigerante e outros produtos industrializados. “Os problemas renais são reflexo do diabetes, cuja incidência, nos aborígenes australianos, está entre as mais elevadas do mundo”, preocupa-se a antropóloga.
Nativismo à brasileira
Em terras tupiniquins, estamos habituados à ideia de arte nativa como artesanato – isto é, peças não assinadas produzidas em série, vendidas a preços módicos e, em geral, entendidas como ‘lembrancinhas’ para turistas. Mas, para Goldstein, as etnias brasileiras guardam imenso potencial artístico, ainda que faltem, aqui, políticas públicas capazes de ampliar a circulação e a comercialização de suas criações. “Nossos povos indígenas têm uma produção artística maravilhosa”, diz a pesquisadora. “O que falta é divulgar, adaptar suportes e criar mercados.”
Os mbengokres (vulgarmente conhecidos como caiapós) têm uma arte plumária das mais refinadas; os caxinauás fazem pinturas corporais interessantíssimas; os waujás fabricam cerâmicas e máscaras de indizível beleza; entre vários outros exemplos. “O Brasil tem mais povos tradicionais que a Austrália, uma diversidade cultural riquíssima que poderia, talvez, beneficiá-los se fosse integrada ao circuito da arte”, diz. “É um privilégio termos tantas tradições aqui.”
Henrique Kugler
Ciência Hoje On-line
Texto originalmente publicado na CH 298 (novembro de 2012).