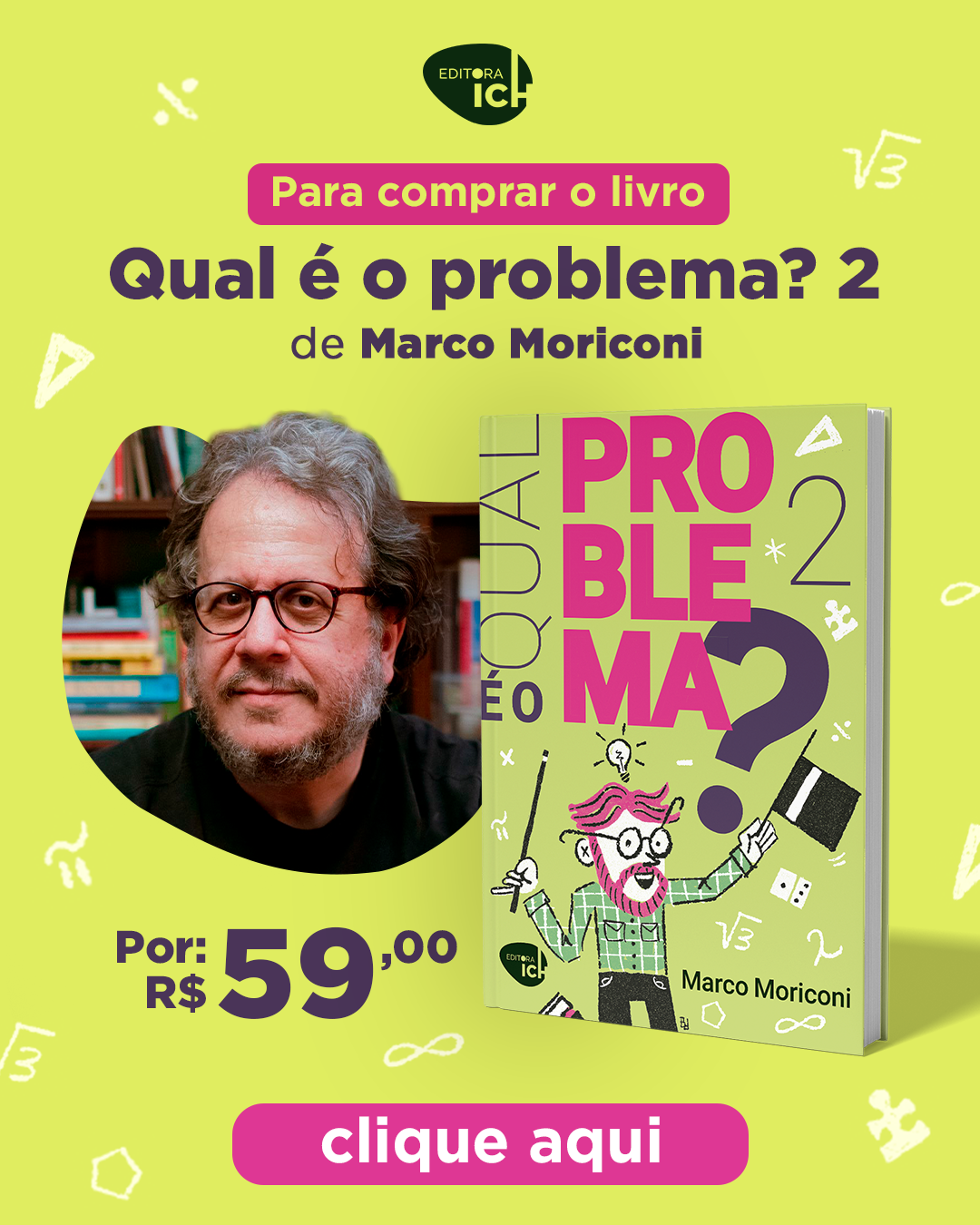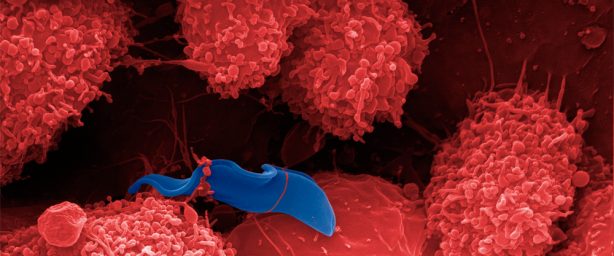A matéria sobre a qual se ocupa o livro K., de Bernardo Kucinski, tem como ponto nuclear o desaparecimento de sua irmã – Ana Rosa Kucinski – e de seu cunhado – Wilson Silva –, em abril de 1974, na altura em que o país vivia as primeiras semanas do consulado do ditador Ernesto Geisel. Seguem até hoje ‘desaparecidos’, ainda que tenha sido encontrado um registro nos arquivos do Departamento de Ordem Política e Social (Dops) paulista atestando a data da prisão, sem mais informações subsequentes. Ambos tinham 32 anos quando foram sequestrados pelas forças de segurança, no centro de São Paulo.
Ana Rosa era, além de militante política, professora-doutora do Instituto de Química da Universidade de São Paulo que, dado o desaparecimento de sua docente, decidiu demiti-la por “abandono de emprego”. Trata-se de um dos episódios mais lamentáveis de toda a história da USP, pelo qual a instituição pediu desculpas tardias, sem, contudo, qualquer implicação para os responsáveis pela medida torpe. No livro, os nomes dos responsáveis e envolvidos na demissão de Ana Kucinski estão devidamente declinados.
Seria uma simplificação, contudo, supor que o livro que resultou de tal matéria seja algo aparentado a registro ou à denúncia de um episódio típico da ditadura implantada pelo regime de 1964. Mais do que isso, trata-se, sobretudo, de uma obra literária. Apesar da força arrebatadora da matéria que lhe deu origem, o leitor em momento algum terá a ilusão de que não se trata de literatura. A tensão entre testemunho/denúncia e literatura fica bem posta – e esclarecida – já na advertência feita por Bernardo Kucinski, dirigida ao leitor: “Tudo nesse livro é invenção, mas quase tudo aconteceu”.
Desfaz-se, na bela formulação, a oposição entre ‘realidade’ e ‘ficção’, e a complementaridade entre ambas acaba por ser admitida. Há, com efeito, muitas formas possíveis de fixação de verdades. Uma delas pode bem ser a combinação entre fato e ficção. Uma combinação que não se dá por justaposição – caso no qual a ausência de ‘dados’ é complementada pela imaginação –, mas por funda necessidade recíproca: a própria força do fato exige o trabalho da imaginação; imaginação cujos efeitos tornam-se tangíveis e significativos para o leitor por meio de operações formais precisas e por experimentos textuais. Se a matéria histórica é a condição originária para o relato, cabe à imaginação e ao cuidado formal a constituição da matéria do ato literário.
Se o ‘desaparecimento’ de Ana Rosa constitui a matéria originária do livro de Bernardo Kucinski, é a vivência dessa supressão por parte de seu pai – kafkianamente identificado como ‘K.’ – que compõe o núcleo da obra. Uma escolha narrativa difícil, cuja matéria – distinta do componente material originário – se define pela exibição de um abismo, de uma vertiginosa negatividade. O elemento narrativo central do livro tem como foco o impacto do desaparecimento sobre K., imigrante judeu, com rico passado de militância política na Polônia pré-Holocausto e prestigioso escritor iídichista.
K. vê-se, de modo súbito, diante do abismo da ausência irremediável da filha e empreende uma busca incansável por sinais. Busca para a qual estava, como de resto sempre se está, despreparado para empreender e na qual, ao mesmo tempo em que se vê no vórtice de um infinito negativo, reúne fragmentos sobre a vida de sua filha, por ele inimagináveis. Uma vida que, em função da militância e da clandestinidade, não se revelara aos familiares. K., assim, descobre que a filha havia se casado; encontra fotos nas quais ela aparece em uma cidade estranha no interior do país, em meio a novos parentes.
Exibe-se, pois, uma associação absurda entre supressão de existência e aproximação, como se a filha se revelasse de modo mais inteiro no momento em que é eliminada do mundo dos vivos. Se o livro fosse um compasso, poder-se-ia dizer que a ponta seca é a experiência de K. com a interposição desse abismo em sua vida. A genialidade do livro de Bernardo Kucinski consiste em fazer da agonia de K. o ponto de observação mais geral de toda a trama e seu núcleo de inteligibilidade. É evidente que o tema mais geral da política aqui está presente, mas, ouso dizê-lo, parece-me colateral. O leitor ávido por argumentos para fazer, retrospectivamente, a execração da ditadura de 1964 encontrará no livro farta inspiração, mas terá passado ao largo do experimento literário fixado no tema da supressão dos sentidos ordinários da vida.

- O escritor e jornalista Bernardo Kucinski construiu seu primeiro livro de ficção em torno do desaparecimento real de sua irmã, Ana Rosa Kucinski, no período ditatorial do Brasil. (imagem: divulgação)
Em torno do eixo composto pela agonia de K., o livro resulta de uma justaposição de elementos formalmente independentes. Há um capítulo notável, que reproduz imaginariamente a longa resposta de uma amante do celerado delegado Fleury a alguém que a ela recorre para obter informações sobre o filho desaparecido. Outro, inesquecível, reconstitui uma entrevista de uma servente, empregada na limpeza da ‘Casa da Morte’, em Petrópolis, com uma psicóloga, para quem narra o que viu. Há outros mais, igualmente pungentes. Mas o notável é a gravitação dessas peças de esclarecimento ao leitor, do que se passou naqueles anos, em torno dos capítulos nos quais a matéria central é constituída pelo absurdo, pela perda de sentido e pela negatividade da experiência de K.
Há, enfim, vários modos de escrever sobre um regime tirânico. Na maior parte dos casos, opta-se por descrever o destino e a tragédia das vítimas diretas: como foram torturadas, como morreram ou como conseguiram sobreviver. É como se a linguagem das ditaduras fosse formada a partir de letras tatuadas nos corpos daqueles que elas eliminam.
Outra escolha formal, menos óbvia, é a de lidar com a dimensão complementar da perda. Escolha que obriga a narrativa a considerar o tema da negatividade e da vivência introspectiva da supressão de sentido, por parte dos personagens que permanecem vivos e vinculados indelevelmente a um vazio. Uma escolha que bem pode ser encontrada na obra de Primo Levi, a respeito de sua experiência no campo de extermínio; obra que faz do tema da supressão dos sentidos ordinários e comuns da vida o seu ponto focal. Bernardo Kucinski exerceu em K., com perícia incomum, essa escolha formal.
A matéria do livro é, sem dúvida, dotada de uma objetividade incancelável. Afinal, há algo de mais real e inapelável do que a supressão violenta de vidas humanas? No entanto, há algo de imaterial e intangível nessa escandalosa materialidade. Há aqui uma dificuldade nada desprezível: não podemos nos afastar desses fatos; mas ao mesmo tempo eles se revelaram para nós como eventos negativos, sob a forma de não corpos, de tumbas ocas, de objetos aos quais se atribuiu uma longa série de denegações de existência.
Com o livro K., defrontamo-nos com uma experiência na qual a assim chamada realidade é revelada sob a forma de um abismo. É mesmo o caso de indagar: e se o real tiver a forma de um abismo? Ou de uma lápide – desejada por K. – sobre o espaço vazio da ausência irremediável do corpo da filha que ali deveria estar, para que o curso da vida tivesse um mínimo de sentido?
Renato Lessa
Instituto Ciência Hoje e
Departamento de Ciência Política/ UFF