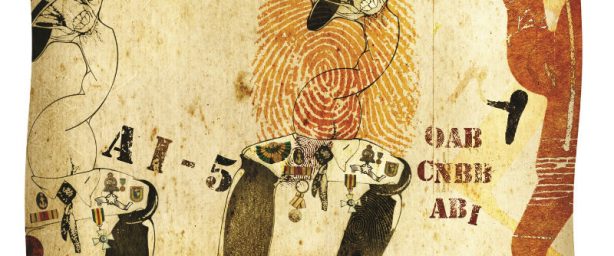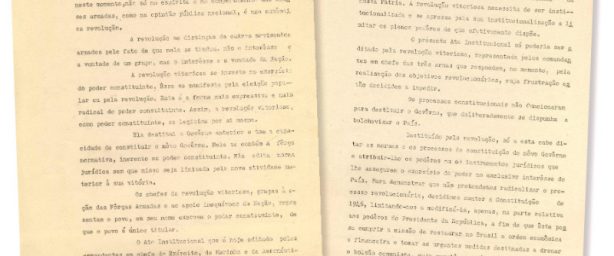No início de 1969, um telefone tocou, à noite, em Belo Horizonte. O ruído da campainha foi dar na casa de Simon Schwartzman, jovem sociólogo, casado, pai de um filho de meses e recém-chegado de um doutorado em Berkeley (EUA). Do outro lado da linha, “um amigo” (aspas necessárias) diz, com contornos de ameaça, que seu interlocutor poderá até assumir o cargo – no caso, na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) –, mas não poderá dar aulas. “Senti que estava sendo chantageado e decidi, então, vir para o Rio”, conta Schwartzman. Pouco depois, incensadas pelo Ato Institucional número 5, as cassações chegariam à UFMG.
Esse é só mais um deslocamento na vida de Schwartzman. Foram muitos, antes e depois: Santiago, Buenos Aires, Oslo, Berkeley, Rio de Janeiro, São Paulo… Parte dessas idas e vindas foi impulsionada pela perseguição política, que, para Schwartzman, começou há exatos 50 anos, com o golpe militar: os militares processaram aquele jovem sociólogo – que o pai queria engenheiro a todo custo – por “perversão da mente” dos alunos. “E eu havia dado só duas aulas…” (risos).
Essa inquietação geográfica se confunde ora como causa, ora como efeito de sua inquietação intelectual, marcada pela busca ampla de temas. Os que trabalham com história e sociologia da ciência por aqui certamente devem agradecer o fato de o Norte da bússola de Schwartzman ter apontado para a direção que o levou ao clássico (e, portanto, obrigatório) Formação da comunidade científica no Brasil.
Quando o cenário da sociologia no Brasil era dominado pela tradição marxista, Schwartzman ofereceu, em sua tese de doutorado, outro viés de análise – para a época, quase uma heresia: a teoria de classes, segundo ele, não explicava o cenário político brasileiro; não dava conta, por exemplo, da marginalidade sofrida pelo estado de São Paulo ao longo da história.
“No Brasil, havia um grande equívoco na tradição das ciências sociais: tentar interpretar a história brasileira à moda do marxismo europeu, como determinada pelas relações de classe, que, aqui, são totalmente diferentes, e, portanto, o instrumental marxista não dá conta disso. Minha tese teve boa repercussão e até hoje é referência”. Schwartzman conta que o próprio Fernando Henrique Cardoso tinha uma visão marxista bem tradicional da política; depois, passou a ter outro olhar. “Tenho certa pretensão de que o ajudei nessa virada.”
Há outra faceta de Schwartzman que, talvez, só jornalistas e editores conheçam. E ela faz a alegria das redações em fechamento: o artigo encomendado chega em tempo recorde, e o conteúdo sempre surpreende pela qualidade, agudeza e bom senso da análise – e não importa se, para isso, seja preciso criticar essa ou aquela gestão, ideologia ou pensamento. Schwartzman é rápido, sincero e independente.
Hoje, Schwartzman, presidente do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade, desfruta de uma dupla visão privilegiada. A primeira delas é puramente ótica: de sua sala no IETS, contempla um dos cenários urbanos mais bonitos do mundo, com o Pão de Açúcar dando plantão permanente ao fundo, e as águas da baía servindo de suporte para o horizonte. A outra é mental: daquela cobertura, o experiente sociólogo, com cerca de 50 anos de carreira, enxerga, como poucos, séculos da história do Brasil. E isso é ainda mais invejável, sem dúvida.

- Simon (ao fundo, segundo da esquerda para a direita), com colegas da Faculdade Latino-americana de Ciências Sociais (Flacso), em Santiago, no Chile, no início da década de 1960. (foto: Arquivo pessoal)
Quais as suas origens?
Simon: Nasci em Belo Horizonte, em 3 de julho de 1939. Meus pais, imigrantes judeus, vieram para o Brasil no início do século passado. Conheceram-se aqui. Minha mãe, Helena [originalmente, Chaja (lê-se ‘Raia’)] Radzyner, nasceu em Safat, Palestina. O avô dela era judeu polonês, religioso, que decidiu morrer na Terra Santa e levou a família para lá – talvez, no fim do século 19 ou início do passado. Mas os pais dela se separaram, e como minha avó tinha um irmão no Brasil, ela veio para cá. Minha mãe ficou com o pai, que morreu jovem. Assim, ela ficou sem pai nem mãe. Os parentes da Polônia mandaram-na, com o irmão, para o Brasil, para se juntarem à mãe. Minha avó era pobre, mas relativamente educada. Vinha de uma família de judeus poloneses que, acho, tinha recursos. Mas minha mãe praticamente não estudou, e não sei ao certo como foi parar em Belo Horizonte.
A família do meu pai era da Bessarábia, entre a Romênia e a Rússia. Meu pai, Salomão [originalmente, Zolmin] Schwartzman, era de uma daquelas aldeias judaicas típicas. O pai dele – que não conheci – veio para o Brasil para ganhar dinheiro, no início do século passado. Vendeu coisas na rua e voltou para buscar a família, mas correu a notícia de que ele tinha vindo da ‘América’ cheio de dinheiro, e acabou assaltado. Voltou, de novo, para cá, para trabalhar, mas veio a Primeira Guerra, e ele ficou aqui. Depois do conflito, trouxe a mulher e os filhos. Eram muito pobres. Primeiramente, moraram no Rio de Janeiro, mas meu avô ficou tuberculoso, e Belo Horizonte era uma opção para os que queriam tratar a doença, por causa do ar das montanhas.
Em sua casa se falava iídiche?
Meus pais falavam iídiche entre eles e português comigo. Falavam português fluentemente, pois minha mãe chegou ao Brasil com sete anos, e meu pai, com uns 13 ou 14. Eu entendo um pouco iídiche, mas nunca falei. Minha mãe não falava hebraico; talvez, soubesse um pouco de polonês, mas não falava. Acho que meu pai falava romeno, mas nunca o ouvi falando.
Como era o ambiente em Belo Horizonte em sua juventude?
A comunidade judaica era formada por umas 500 famílias. Moramos no bairro de Carlos Prates; depois, no Centro. Havia na comunidade uma divisão que era, em parte, político-ideológica e, em parte, social: os sionistas e os progressistas. Estes últimos, mais pobres, falavam iídiche, não tinham ligação forte com a religião e, em geral, eram de esquerda. Uma parte deles, na Europa, havia sido ligada à Bund, organização de operários judeus, e aos partidos comunistas. Os sionistas, mais religiosos, tinham ligações com Israel e, em geral, eram mais ricos. Minha família estava do lado progressista. Embora meus pais não tivessem maiores preocupações políticas, me criei nesse ambiente, em que havia interesse pela política. E só comecei a sair dele aos 18 anos, quando entrei para a faculdade.
Antonio Augusto Passos Videira
Departamento de Filosofia
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Cássio Leite Vieira
Ciência Hoje/ RJ