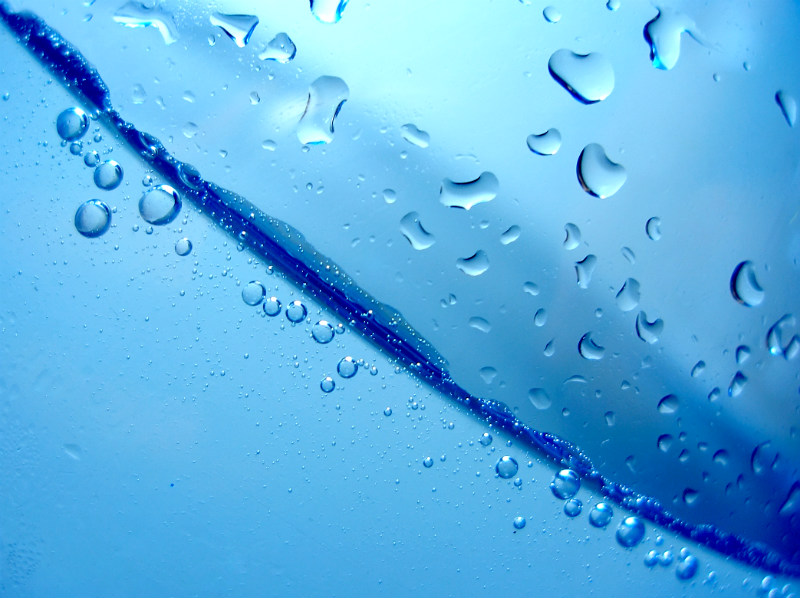Sejamos honestos: nós, brasileiros, tornamo-nos praticantes passivos de alguma espécie de mimetismo pós-colonial. Imitamos padrões europeus e estadunidenses em quase tudo – desde detalhes aparentemente banais, como vestimentas que usamos ou músicas que ouvimos; até estruturas políticas ou intelectuais reproduzidas a partir de matrizes do Norte. E a academia não foge à regra. Os autores que lemos, afinal, são quase sempre os clássicos do Velho Mundo.
Nos ventos do século 21, porém, as periferias geopolíticas pedem um mundo multipolarizado – e, cada vez mais, esse movimento configura a nova realidade global. Ainda perdura, no entanto, a clivagem do cenário internacional em dicotomias datadas que reforçam a segregação do mundo em dois hemisférios simbólicos.
Sobre esse instigante tema, Ciência Hoje ouviu o historiador e antropólogo Cláudio Pinheiro, diretor da Sephis, agência holandesa dedicada à formação de quadros intelectuais de países do Sul, agora sediada no Fórum de Ciência e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pinheiro denuncia o colonialismo tardio do qual apenas começamos a nos libertar. E, dono de um papo tão pertinente quanto sofisticado, aposta suas fichas nos países austrais como promissores espaços de enunciação política, cultural e intelectual.
É correto afirmar que no Brasil, como em muitos países em desenvolvimento, ainda somos intelectualmente colonizados?
Essa colonização intelectual e acadêmica que vivemos não é uma conversa nova. Sua denúncia sistemática vem dos anos 1960. Mas, agora, a ideia está sendo desenvolvida com muito mais substância e continuidade. Dois anos atrás, veio ao Brasil uma das grandes intelectuais que debate a ideia de Sul: a antropóloga australiana Raewyn Connell. Sabe o que ela disse? “No evento acadêmico do qual participei aqui, as bancas de livros vendiam o mesmo que eu encontraria em um evento acadêmico na Austrália: Pierre Bourdieu, Jürgen Habermas, enfim, os autores clássicos europeus. Mas eu gostaria de ler, na verdade, autores clássicos brasileiros! E também os africanos, os indianos…”
Se o debate já tem quatro décadas, por que essa colonização permanece?
As agendas de pensamento estão muito profundamente ancoradas em conjuntos de teorias, temas, categorias de análise e agendas de financiamento à produção científica que se referem a uma experiência histórica particular, que é a do Atlântico Norte – tanto europeia, quanto norte-americana. É nessas experiências que nós, da periferia, acabamos baseando nosso discurso intelectual sociológico, antropológico, político e historiográfico.
Um dos grandes autores a denunciar isso, nos anos 1990, foi o indiano Dipesh Chakrabarty, da Universidade de Chicago. Ele escreveu um livro, em 2000, chamado Provincializando a Europa [Provincializing Europe, editado pela Princeton University Press, sem tradução para o português]. O argumento básico está no título: a Europa é uma paróquia. Só que essa paróquia se mundializou, a partir de um longo processo histórico associado ao colonialismo. E passamos a acreditar que nela estaria alguma espécie de grande verdade.
Pense em um estudante de ensino médio. O que ele estuda em história? História europeia. Estudos sobre África entraram para o nosso currículo apenas recentemente, em 2003, por uma medida governamental. Certo: o estudante sabe então sobre Europa e África. O que falta? Falta tudo. Conhecemos mais detalhes sobre a queda da Bastilha do que sobre grandes revoluções africanas. Estas passam completamente ao largo de nosso conhecimento. Como estudar história mundial sem estudar a história da África? Como entender o impacto que teve a diáspora de africanos nas Américas e na própria África? Como isso interferiu, por gerações e séculos, na capacidade africana de recuperar sua economia? Nossa própria forma de datação do tempo é marcada pela experiência europeia. Compreendemos o mundo em termos de história antiga, medieval, moderna e contemporânea. E é nesse trem que nos localizamos: o Brasil passa a existir no mundo a partir da história moderna – durante a expansão europeia.
Com a emergência de novas forças geopolíticas, a exemplo dos BRICs (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), essas ‘categorias de análise’ podem ser remodeladas?
Não obstante países como os BRICs sejam mais e mais importantes no cenário político internacional, continuam não sendo donos do próprio arcabouço que define a maneira pela qual se conhece o conhecimento: a forma de datar o tempo, a forma de classificar sociedades, as categorias de compreensão do mundo. Exemplo: se falamos em ‘família’, um aluno do ensino médio pensa em pai, mãe, avós, tios, filhos, netos. Em muitas sociedades é assim. Mas em muitas outras, não. Para povos nativos brasileiros ou sociedades asiáticas, por exemplo, a noção de família engloba relações mais amplas, que podem incluir até animais.
O conceito ocidental baseado na experiência europeia não dá conta de toda a realidade. Acontece que os demais modelos são invisibilizados por outros que nos fazem compreender o mundo de forma engessada. Isso vale não só para a ideia de família como também de Estado, política, democracia. Para alguns autores, não é o dinheiro que faz uma sociedade ser classificada como “periférica”. Mas sim o não domínio sobre as categorias que organizam o pensamento, a política e a sociedade.
Essa imitação subalterna é muito perceptível na academia…
Quase todo aluno de graduação no Brasil (desde enfermagem a agronomia, passando pela engenharia) estuda ciências sociais como disciplina obrigatória. Em muitos casos isso envolve a leitura dos ‘clássicos’: Karl Marx [1818-1883], Max Weber [1864-1920], Émile Durkheim [1858-1917]. Eles são interessantíssimos, não há dúvida. Mas parece uma igreja com seus santos principais. Cadê os santos da periferia? Que autores pensaram as sociedades que hoje são periféricas? É um desafio contemporâneo incluir outros clássicos no ensino e no debate. Muito se perde diante do fato de que as estruturas para conhecer o ‘outro’ estão marcadas pela experiência de uma província, de uma paróquia específica, que é a Europa. É preciso universalizar o vocabulário de categorias de análise de modo que o mundo seja mais polifônico.