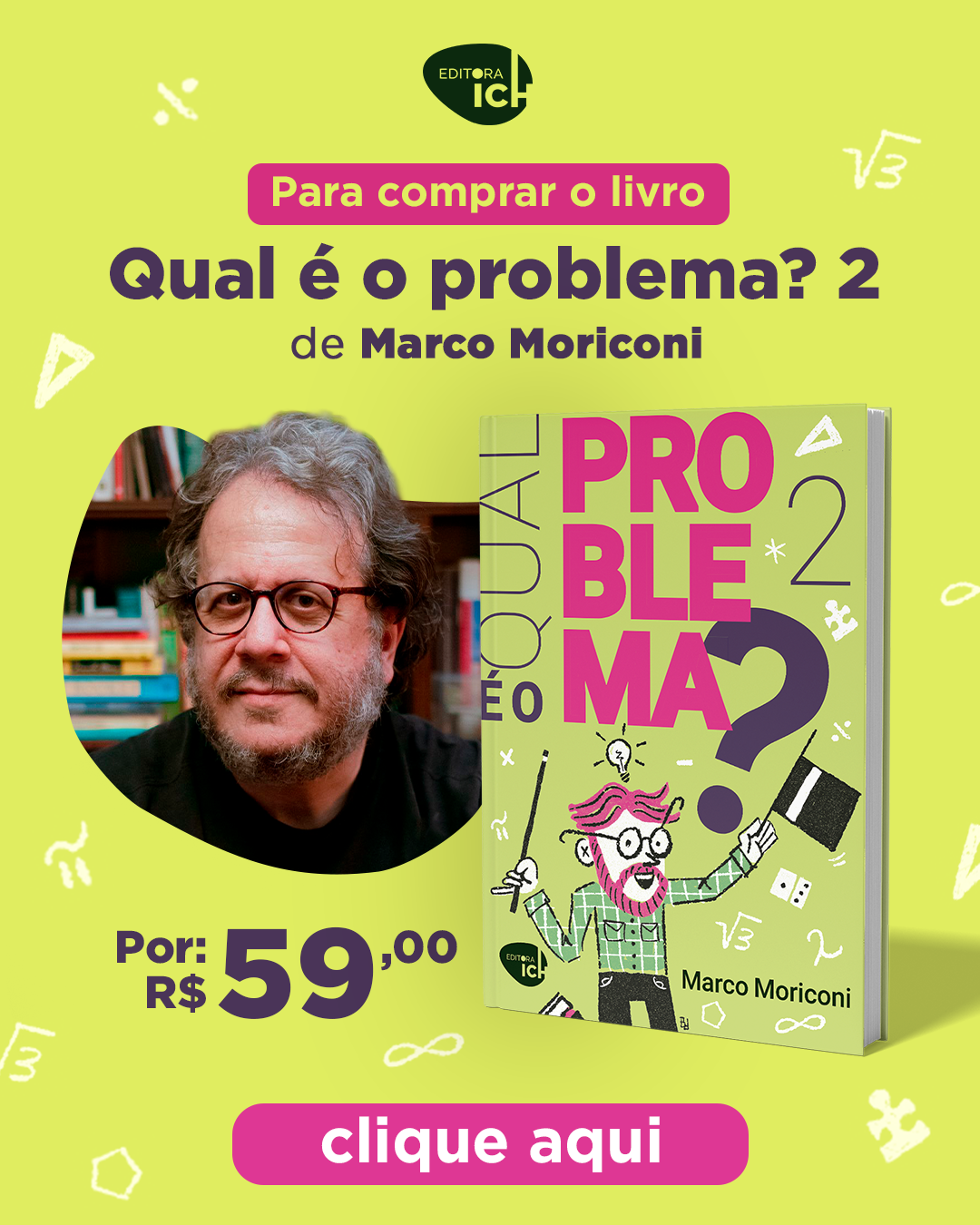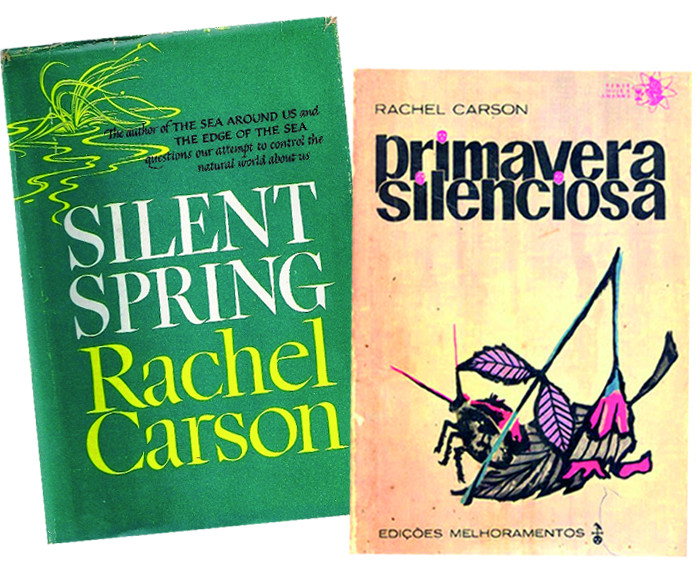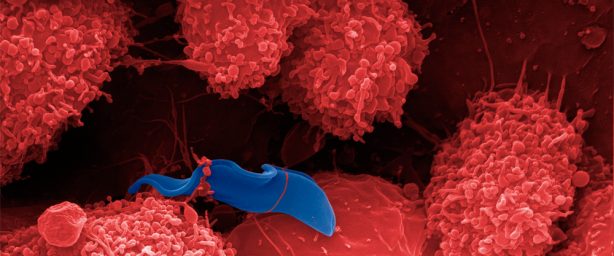Na instalação 24 Hour Psycho (1993), o artista escocês Douglas Gordon exibe em câmera lenta o filme Psicose, de Alfred Hitchcock, de modo que dure exatamente 24 horas, e não os 109 minutos originais. É a obra mais famosa baseada no clássico de suspense e representa a aproximação, cada vez mais intensa, entre cinema e arte. Sim, porque a história das salas de cinema e museus nem sempre esteve entrelaçada. Pelo contrário, diz Philippe Dubois, da universidade de Paris III (Sorbonne Nouvelle), considerado hoje um dos maiores pesquisadores do campo da imagem.
Autor de livros influentes no meio dos estudos audiovisuais, como O ato fotográfico e Cinema, vídeo, Godard, ele tem se dedicado a pesquisar a dimensão artística do cinema e sua relação com a arte contemporânea – o ‘cinema de exposição’. A expressão foi cunhada pelo crítico de arte Jean Christophe Royoux, no início dos anos 2000, para designar a transposição do cinema para os museus e galerias de arte, em oposição ao tradicional ‘cinema de projeção’ das salas escuras.
Para Dubois, o cinema de exposição traz muitas questões, tanto estéticas quanto históricas. Qual a diferença entre assistir a um filme no cinema ou no museu? Como o espectador interage com o filme nessas duas situações? Quando artistas começaram a utilizar o cinema como obras de arte? Como se deu essa aproximação? Qual era a relação entre os dois campos antes de se misturarem? Em visita ao Brasil, este ano, Dubois concedeu essa entrevista ao sobreCultura, passeando ainda por outros assuntos, como a experiência cinematográfica a partir das novas tecnologias, a videoarte e o controverso ‘cinema de verdade’.
Assista a pequeno trecho de
sobreCultura: A proximidade entre o cinema e a arte é algo relativamente novo. Como vem se dando essa relação a partir de uma perspectiva histórica?
Philippe Dubois: Podemos dizer que, de 20 anos para cá, o cinema e a arte contemporânea se aproximam cada vez mais: há artistas que usam o cinema; há cineastas que fazem exposições e instalações. Mas devemos lembrar que esses dois domínios não estiveram sempre tão próximos. Ao contrário: chegavam mesmo a se ignorar. O cinema nem sempre foi definido como um campo artístico – tem sido visto como objeto cultural, de consumo, ligado à diversão ou científico. E, por isso, a relação da arte com o cinema não é automática. As instituições da arte e do cinema nem sempre colaboraram entre si. Houve algumas experiências nas décadas de 1920 e de 1960, mas, de forma geral, o mundo do cinema ignorou o mundo da arte – é comum cineastas desconhecerem a história da arte, da pintura etc. – e muitas instituições, como os grandes museus, não estimularam essa relação. Isso quando não houve certo desprezo entre eles.
Alguns museus cultivam a ideia de que podem mostrar todas as artes, mas não são muitos os que consideram a possibilidade de colecionar e preservar o cinema como um domínio da arte. Aí entra a questão da legitimidade, do valor conferido ao cinema como expressão artística.
A experiência do Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA) é interessante, pois foi o primeiro museu de arte moderna a incluir um departamento de cinema com a mesma estatura dos departamentos de pintura e de escultura. Isso aconteceu somente em 1936. De início, o conselho administrativo do museu não concordou. “Como colocar filmes ao lado de El Greco e de Pollock?”, perguntavam. Até que aquela que seria a primeira diretora do departamento de filmes os convenceu. Ela teve de fazer uma conferência sobre o cinema como a sétima arte, uma arte como outra qualquer.
Hoje isso parece mais banal. Ainda assim, a coleção de filmes do Centro Pompidou, em Paris, abrange filmes de arte e sobre arte, mas não filmes tradicionais, como, por exemplo, um de Hitchcock. Para entrar na cinemateca do Pompidou, os filmes precisam ter uma dimensão explicitamente artística. Nos anos 1990, ao mesmo tempo em que os museus criavam departamentos de filmes, foram inaugurados museus de cinema, cinematecas e arquivos de filmes. Hoje, a situação é diferente: todos os museus fazem exibições de filmes e muitos cineastas querem fazer exposições com seus filmes. Há um desejo de encontro dos dois lados, uma vontade de achar um território onde se possam realizar atividades comuns.
Às vezes, pessoas ligadas às artes dizem que o verdadeiro cinema está na arte e não no próprio cinema – o cinema autêntico seria o experimentalismo, por exemplo. Essa afirmação faz sentido?
Existe uma grande diversidade no cinema: documentário, científico, industrial, de autor etc. E há o cinema experimental. Ele é tão velho quanto o próprio cinema – no começo, tudo era novo e só havia experimentação. Méliès era experimental, Lumière era experimental. Foram os artistas plásticos, próximos ao mundo da pintura, da performance e das correntes de vanguarda (surrealismo, futurismo, dadaísmo etc.), que se apropriaram do cinema como um instrumento suplementar: além do pincel e dos utensílios para esculpir, usavam a câmera. Nos anos 1920, sobretudo nos meios de vanguarda, surgiu uma forte orientação de se trabalhar o cinema como material de arte. Mais tarde, essa apropriação evoluiu, mas a questão da utilização de imagem móvel e som como projeto artístico sempre se colocou. E essa ideia está hoje perfeitamente integrada ao mundo da arte.
O cinema de produção comercial é muito mais ambíguo. A noção de ‘cinema de autor’ foi bastante utilizada pela revista Cahiers du Cinéma nos anos 1960 para designar os cineastas norte-americanos dos anos 1930 e 1940 que eram capazes de transmitir suas ideias de forma pessoal, independentemente do desejo do produtor ou do público visado. Hoje, não há mais essa noção de autor. Godard é o quê? Nos anos 1960, ele era um autor. Hoje, seu estatuto mudou: é um cineasta-artista, com toda a ambiguidade que o termo carrega. Passamos ao cinema de artista, o que é um sinal de proximidade entre os dois universos. Mas daí a dizer que é este o verdadeiro cinema? Não sei o que é o ‘verdadeiro cinema’. O documentário; os filmes dos [Steven] Spielberg (se o critério for o sucesso popular); o cinema de arte (se o critério for inventar formas) – são todos cinema de verdade. ‘Verdadeiro’ não quer dizer nada por si só, depende da concepção de verdade que queremos utilizar.
Assista à Viagem à Lua, de Méliès
Seu livro Cinema, vídeo, Godard traz o conceito do cinema como um “dispositivo modelo”, que compreende a sala escura, espectadores imóveis, silêncio etc.
Em que sentido, a permanência desse dispositivo, como afirma, seria comparável à leitura de romances do século 19 hoje em dia? Refiro-me à incrível estabilidade do dispositivo. Temos hoje exatamente o mesmo dispositivo que os irmãos Lumière utilizaram. As pessoas saem de suas casas para ir ao cinema, pagam o ingresso, entram numa sala escura, sentam-se numa cadeira, há um aparelho que projeta o filme na tela em frente. Desde o fim do século 19 até hoje, o cinema é isso. É verdade que há algumas experiências distintas, como o cinema em duas telas, mas elas são marginais. O dispositivo cinematográfico é de uma estabilidade extraordinária, ao ponto de que define em si o que é o cinema. Assistir a um filme no seu computador não é cinema, embora sejam filmes. A identidade do cinema é a projeção em 35 mm numa sala com outras pessoas que querem ver aquele filme. Todas as outras artes tiveram variações maiores de dispositivo. O teatro e a pintura, o vídeo, a televisão, tudo isso mudou. O cinema não.
Quais as implicações da diferença de temporalidade no cinema propriamente dito e no ‘cinema de exposição’?
No cinema tradicional, o tempo é imposto ao espectador: ele deve chegar a uma determinada hora e, após duas horas, deve sair. Ele pode sair antes, mas, de qualquer forma, a única ação possível é partir. Nos museus, nas instalações, o tempo é livre. O espectador que entra numa galeria de arte ou num museu administra o tempo livremente. Ele entra quando quer, fica o quanto quer. É ele quem faz a montagem, decide a trajetória pela sala para ver as imagens projetadas e outras ações do tipo. Há liberdade, mas também a responsabilidade de construir sua visão da obra. A essa liberdade/responsabilidade juntam-se os dispositivos de tempo específicos, como as instalações que aplicam o tempo real. Um cineasta que brincou bastante com isso foi o francês Chris Marker. Em Zapping zone, de 1990, estão presentes várias temporalidades. Ele colocou numa sala dezenas de monitores e telas que exibem de filmes de arquivo a programas da televisão japonesa, em tempo mais rápido e mais lento, descontinuados. O espectador circula pela sala, construindo sua própria narrativa da obra e pode interagir com os monitores, trocando de canal.
Veja imagens de Zapping zone,
instalação de Chris Marker
Podemos dizer que o ‘cinema de exposição’ dá mais atenção à materialidade do cinema?
Sim e não. Essa é uma questão complexa. O cinema tradicional dá atenção à materialidade no sentido de importar, por exemplo, como o cineasta vai usar a luz sobre uma porta, sobre um muro etc. Já o vídeo é muito menos plástico que o cinema desse ponto de vista, porque a tela é menor. Nele, há uma plasticidade diferente, possibilitada pelo utensílio: podemos filmar 10 horas sem parar, filmar rapidamente, seguidamente. Há um tipo de maleabilidade da condição de filmagem e de exibição de imagens. A materialidade do vídeo está ligada ao desenvolvimento extraordinário dos utensílios manuais. Veja o controle remoto. Não teorizamos muito sobre ele, mas quando o temos nas mãos, controlamos o som, a imagem, a luminosidade, o contraste. Inacreditável! Podemos deixar uma imagem mais clara, mais escura, mais contrastada. E, mais tarde, o mouse de computador. Podemos fazer com o mouse o que um pintor faz com uma tela. Os primeiros sítios pornográficos na França, por exemplo, utilizavam muito o mouse como um objeto físico: era possível acariciar o seio de uma mulher com o mouse e ela reagia.
A videoarte fez a mediação entre o cinema e a arte contemporânea. Esse cenário mudou? Qual o papel da videoarte hoje?
Hoje, a videoarte não é mais um campo específico. Foi uma criação dos anos 1970 que durou até os anos 1990. Depois, tudo se tornou digital: o vídeo, o cinema, a internet, o texto. Entramos numa fase digital das imagens, dos textos, dos sons. Por outro lado, conferimos ao vídeo uma significação mais ampla, que abrange todos os exemplos de cinema no museu. Ele faz-se presente pelo suporte do vídeo, pelo videocassete, pelo DVD. Nesse sentido, é o vídeo que possibilita o cinema estar presente nos museus. Foram poucas as vezes em que esteve presente como película. O projetor de película continua, entretanto, como um souvenir de tecnologias do passado.
Em meados dos anos 1980, nos museus, víamos as obras nas telas de TV. Não havia projeção porque o projetor de vídeo, então, não era interessante para os cineastas e os artistas. Em 1985 surgiu uma nova geração, na qual [o videoartista norte-americano] Bill Viola teve um papel essencial. Foi ele quem aproveitou as imagens em qualidade cinematográfica, em grande formato, projetadas. Foi somente a partir daí que se apresentou outro modo de ver filmes no museu – passamos da era da videoescultura para a videoprojeção.
Como o senhor vê o ‘cinema de exposição’ na internet – no Youtube, por exemplo?
Eu não assisto a vídeos no Youtube [risos]. Eles têm seu tamanho muito comprimido e a qualidade é ruim. Outro dia, vi na estação de trem uma pessoa que assistia algo num celular e, quando cheguei perto, vi que se tratava de Cidadão Kane [clássico de Orson Welles]. Como alguém consegue assistir a Cidadão Kane numa tela de 5 x 5 cm? Em termos de acesso, a internet é formidável – podemos ver filmes aos quais nunca teríamos acesso em película. Mas em relação à experiência e à qualidade de imagem, é péssimo.
Há uma geração de estudantes que assistiu a vários filmes no Youtube. Eles assistiram aos filmes? Eu acho que não. Para mim, Youtube é recurso de acesso a filmes como informação, não como filmes. Não há a experiência do filme nem de sua plasticidade.
Por que Psicose, de Hitchcock, é tão utilizado pelo ‘cinema de exposição’?
De fato, há mais de 50 obras de artistas que fazem referências bem diretas a esse filme. Para muitos artistas, trata-se de uma matriz para o trabalho de experimentação com formas. Psicose está no imaginário. O filme joga com todos os tipos de sensações: medo, surpresa etc. Hitchcock, mais que outros cineastas, tem muitos filmes desse tipo, mas Psicose é o filme obrigatório para todos. Há artistas que fizeram remakes de todos os filmes de Hitchcock – com pessoas surdas, mudas, deficientes de maneira geral; há até um Psicose pornô!
Consuelo Lins
Escola de Comunicação
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Isabela Fraga
Especial para o sobreCultura