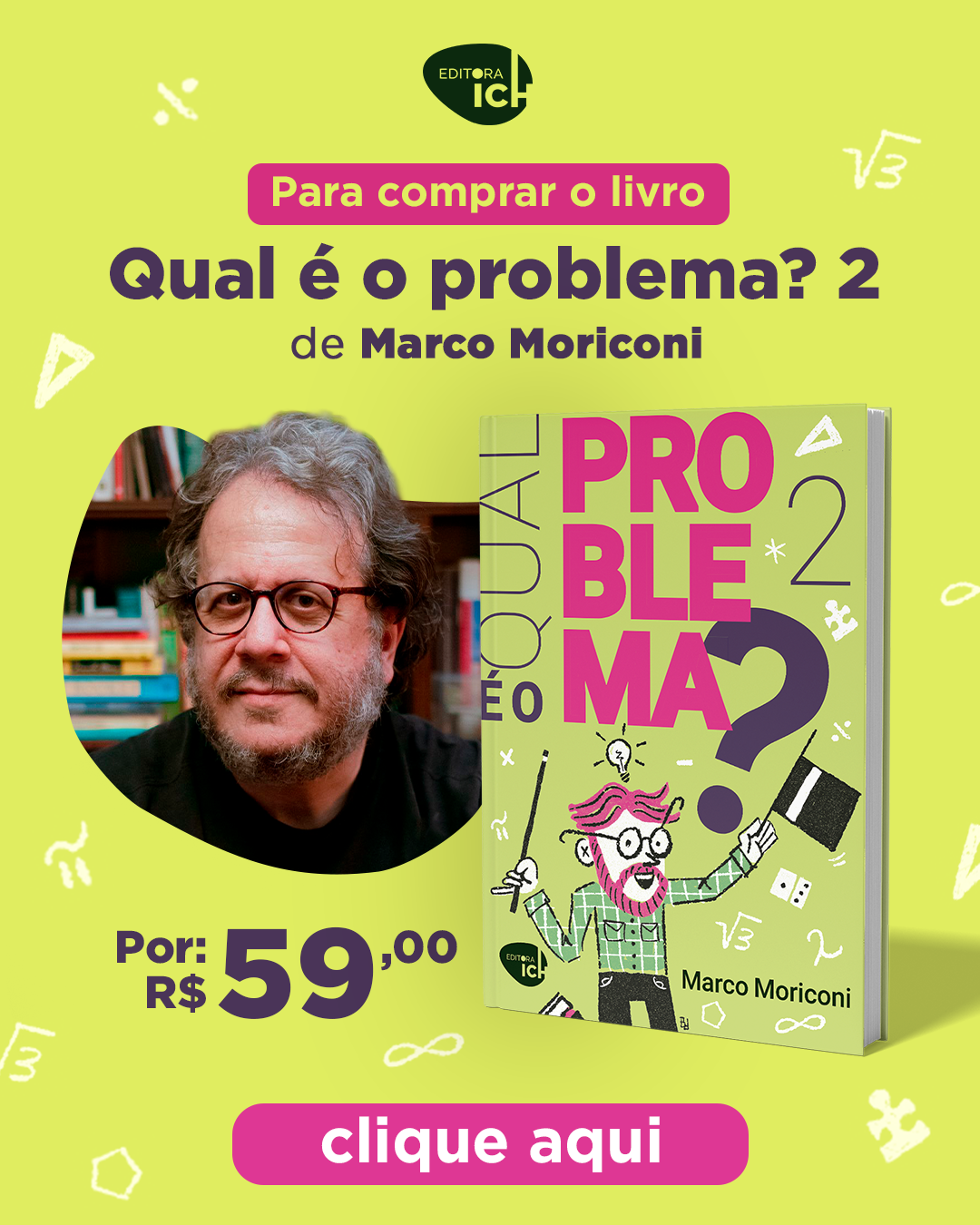Seu reino é o laboratório. Ali, observa, analisa e propõe estratégias para estudar vários tipos de doenças em nível celular. Cultiva neurônios humanos e minicérebros para avaliar traços típicos de transtornos mentais. Seu grupo de pesquisa é o que mais publica na área de células-tronco reprogramadas no país. O neurocientista brasileiro Stevens Rehen, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e pesquisador do instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (IDOR), pode ser considerado hoje ‘o senhor das células-tronco pluripotentes’ no Brasil e, por que não, dos ‘organoides’.
Chefe do Laboratório Nacional de Células-tronco Embrionárias do Rio de Janeiro (LaNCE) do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ desde 2009, Rehen acredita que estamos vivendo uma revolução na biologia e que já começamos a colher os frutos de uma medicina personalizada, que adotará medicamentos desenvolvidos especificamente para o paciente, com mais eficácia e menos efeitos colaterais.
Nesta entrevista à CH, ele fala das conquistas que alcançou e das dificuldades que enfrenta em suas pesquisas com células-tronco.
Sua equipe está usando células reprogramadas para estudar estratégias que ajudem a tratar transtornos como a esquizofrenia, a epilepsia e o TDAH [transtorno do déficit de atenção com hiperatividade]. Antes de falarmos sobre suas pesquisas, gostaria que nos contasse um pouco da história dessas células.
Estamos vivendo uma grande revolução nas áreas biomédicas e biológicas por conta da possibilidade de utilizar células reprogramadas [células do próprio paciente induzidas a se transformar em qualquer célula do corpo]. Modelos biológicos buscam reproduzir situações que sabemos que ocorrem no nosso corpo, uma vez que em muitas pesquisas é impossível trabalhar diretamente com humanos. Por isso é que usamos células, animais ou tecidos pós-morte; porém, cada um desses modelos tem suas limitações. Muitas das células utilizadas não são humanas ou não são aquelas afetadas nas doenças estudadas; e muitos resultados descritos originalmente nos modelos animais não se repetem em seres humanos. Por exemplo, uma substância pode ser tóxica para animais e não para humanos, e vice-versa. Além disso, os cultivos celulares em geral são feitos em 2D – com as células acomodadas em cima de uma placa. Com a reprogramação celular, surgiu a possibilidade de criar tecidos e tipos celulares especializados que têm o mesmo material genético da própria pessoa doadora. É o melhor dos mundos ter o modelo mais próximo ou fidedigno daquilo que queremos estudar sobre o ser humano.
E como se cultivam tecidos em 3D ou organoides?
Hoje se fala muito em organoides, minicérebros, minifígados etc., mas esse tipo de preparação teve início na década de 1950. Aaron Moscona, então na Universidade de Chicago [EUA], desenvolveu um modelo inovador para estudar como células interagiam entre si. Ele separava células de embrião de galinha e depois as juntava novamente. As células se reorganizavam em agregados com estrutura semelhante à original. Podemos dizer que Moscona foi o primeiro a trabalhar com organoides.
Fernando Garcia de Mello, do Instituto de Biofísica da UFRJ, foi outro pioneiro. Ele cultivava células de retina de embrião de galinha, que formavam agregados com as mesmas camadas existentes na retina. Esses agregados também eram organoides! Era fascinante! Acompanhei de perto o trabalho do Fernando e equipe quando comecei minha iniciação científica no laboratório do Rafael Linden, na década de 1990.
Em 2000, fui para os Estados Unidos e comecei a cultivar cérebros de camundongos fetais no laboratório de Jerold Chun, na Universidade da Califórnia em San Diego. Os cérebros eram divididos em dois: um hemisfério para cada lado. Um deles foi tratado com o ácido lisofosfatídico (LPA) e observamos que era capaz de formar os giros e sulcos tão característicos do córtex cerebral de humanos. Em outras palavras, descobrimos que essa substância contribuía para a formação das dobraduras do cérebro.
O cientista japonês Yoshiki Sasai, por sua vez, foi um dos pioneiros na criação de organoides humanos. Mais recentemente, entraram em cena Madeline Lancaster, do Medical Research Council [Inglaterra] e Jürgen Knoblich, do Institute of Molecular Biotechnology [Áustria], que elevaram o cultivo de minicérebros humanos a outro nível.
Quais são as vantagens desses organoides com relação a outros modelos de pesquisa?
A equipe de Flora Vaccarino, da Escola de Medicina Yale [EUA], comparou organoides cerebrais de pacientes autistas com controles e demonstrou que há um grande desbalanço neuroquímico. Lancaster observou alterações no crescimento de organoides criados a partir de células reprogramadas de pacientes com microcefalia. Isso seria impossível de ser observado em cultivos celulares 2D pela falta da complexidade peculiar aos organoides.
Você já publicou artigos que envolvem pesquisas com minicérebros?
Com minicérebros humanos, temos um submetido à publicação e outros sendo finalizados. Desenvolvemos um protocolo um pouco diferente daquele usado por M. Lancaster, com rendimento superior para a geração de organoides. A professora Simone Cardoso, do Instituto de Física da UFRJ, levou esses nossos organoides para o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, em Campinas, para estudar a presença ou ausência de alguns elementos-traço que têm relação com dieta e transtornos mentais. Fizemos a primeira caracterização desses elementos. O interessante foi notar que as concentrações observadas em cérebros humanos reais são muito próximas daquelas presentes nos organoides cerebrais criados em laboratório, o que corrobora a ideia de que são bons modelos do cérebro humano. Agora precisamos aguardar para saber se os revisores também gostaram desses resultados [risos].
Quais são as implicações éticas dessa abordagem de pesquisa – o uso de minicérebros?
Há várias e é natural que existam. Lembro-me de quando se discutiu no Supremo Tribunal Federal (STF) a Lei de Biossegurança, que autoriza a utilização para pesquisa de embriões humanos congelados há mais de três anos, que seriam descartados pelas clínicas, com anuência dos gestores. Aquilo foi um exemplo da delimitação de um novo limite ético criado pela ciência. Um dos pontos debatidos na ocasião foi sobre qual seria um marco para definir o início da vida. Esse marco pode ser o começo de formação do sistema nervoso central – a partir do 14° dia de gestação.
Perguntas que surgem agora: já é possível criar um protótipo tridimensional desse sistema nervoso central? Com o progresso na confecção dos minicérebros, os mesmos conseguirão gerar ‘pensamentos’, ou se comunicar, ou ter consciência? Podemos especular também sobre a possibilidade de unir chips e dispositivos eletrônicos a esse tecido cerebral organizado no laboratório e assim criar computadores humanoides, com um grau de processamento bem mais elevado. Por enquanto, ainda é ficção científica e, ao mesmo tempo, uma provocação. Afinal, quando começa a vida?
Alicia Ivanissevich
Instituto Ciência Hoje/ RJ