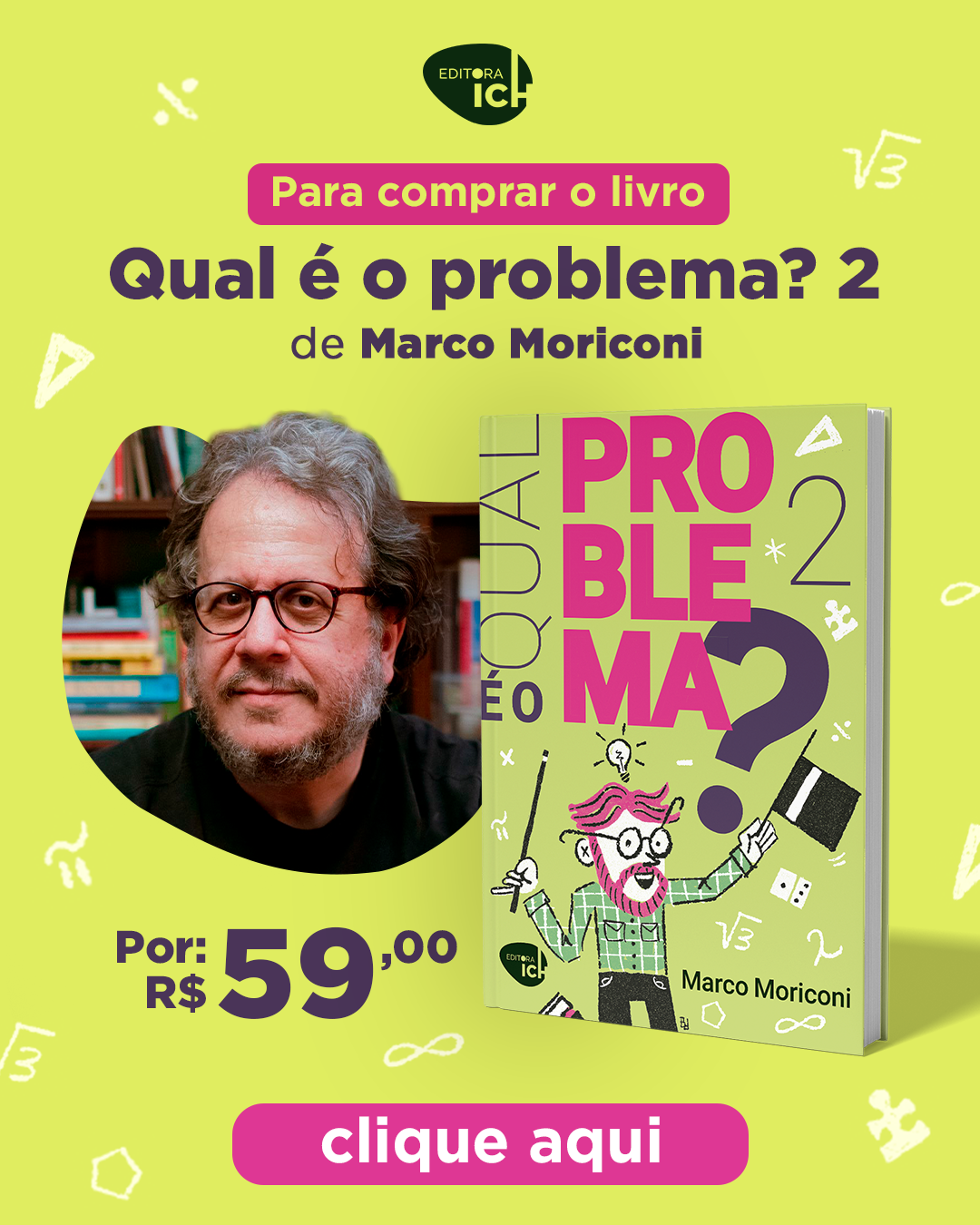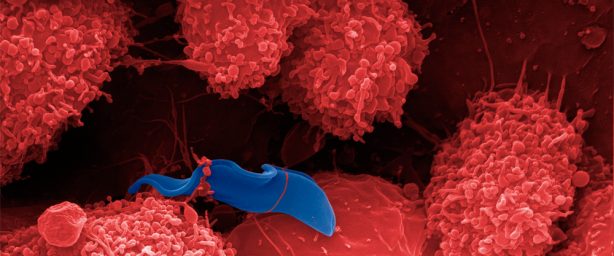Todos sabemos que, no âmbito profissional, fazemos bem aquilo que gostamos de fazer. Em ciência não é diferente. Embora o lado profissional da ciência componha um aspecto mais recente dessa área de atuação, é comum ouvir de cientistas – dos verdadeiros – a expressão, também compartilhada por atores, de que não há nada melhor do que praticar algo muito prazeroso e gratificante e, além de tudo, ainda ser pago para tal. Qual seria, porém, a verdadeira motivação para certas pessoas dedicarem seu maior talento à ciência?
Em 5 de julho último, a revista científica Nature publicou o depoimento de um estudante de pós-graduação, Tal Nuriel, que narra ter vivido um desencantamento momentâneo em razão do andamento de seu trabalho, envolvendo a doença de Alzheimer.
Sua disposição mudou, disse Nuriel, quando, com seus pares, teve um encontro com os pacientes. A partir daí, ele teria trabalhado com renovado ânimo e maior inspiração. O estudante recomenda que os cientistas não percam esse elo vital, sob o risco de serem abandonados pela musa de plantão.
Mesmo diante da dúvida quanto ao desfecho exitoso do trabalho de Nuriel, a mudança de comportamento em função do contato com o alvo de sua pesquisa soa pouco convincente. Lembra um pouco os famosos discursos de misses, do tipo “meu livro preferido é O pequeno príncipe e quero contribuir para erradicar a pobreza e as doenças da Terra”.
Na vida real (pelo menos na área biomédica), os examinadores que selecionam os alunos que orientarão em cursos de pós-graduação encaram com certa dose de suspeita candidatos que dizem querer fazer pesquisa científica por se sentirem compelidos a descobrir a cura para esta ou aquela doença.
Esse argumento também parece não ter sustentação histórica. Biografias de cientistas que trouxeram contribuições relevantes raramente apontam fatores emocionais como determinantes. Além disso, a motivação para a ciência com base na empatia pelos semelhantes dificilmente afetaria, por exemplo, os que se dedicam à paleontologia, à física teórica ou à matemática.
Alguém imagina um Isaac Newton (1642-1727) enclausurado em Woolsthorpe, na casa em que nasceu, durante o surto de peste negra, em 1666-1667, revolucionando a ciência por estar compadecido com a humanidade? E o que dizer do frio e excêntrico Paul Dirac (1902-1984)?
Individualismo, obsessão e organização
É comum ainda afirmar que o cientista nasce pronto e, tão logo surge uma oportunidade, dá seu ‘recado’. A predestinação, no entanto, também pode ser eliminada da lista. Quantos cientistas importantes trilharam caminhos sem qualquer correlação aparente com a ciência, até esbarrarem no objeto de seu fascínio.
Antes de se dedicar à química, Michael Faraday (1791-1867) era encadernador de livros. Já o físico Edwin Hubble (1889-1953) foi boxeador e trabalhou como advogado antes da carreira científica.
É mais razoável buscar, nas mentes dos cientistas, razões mais individualistas. Algo ditado mais por afinidade ao tema de trabalho e por desafio intelectual que pelo altruísmo. Afinidade e, naturalmente, curiosidade – não é à toa que a nova sonda marciana tem esse nome.
Com frequência, grandes reviravoltas na ciência nascem de perguntas seminais e abrangentes, que parecem alimentar nos pesquisadores a obsessão necessária à resolução das grandes questões. Newton dizia que, para ele, as soluções apareciam porque nunca parava de pensar no mesmo problema.
Outra peculiaridade do ofício não deve ser esquecida: a capacidade de vislumbrar a ordem no caos. Sempre que os objetos de estudo são comparados e arrumados conforme certos critérios, surge uma ordem esclarecedora que é, quase sempre, o prenúncio de uma revolução.
Com Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829), Charles Darwin (1809-1882), Gregor Mendel (1822-1884) e Dimitri Mendeleiev (1834-1907) foi assim.
Franklin Rumjanek
Instituto de Bioquímica Médica
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Texto originalmente publicado na CH 296 (setembro de 2012).