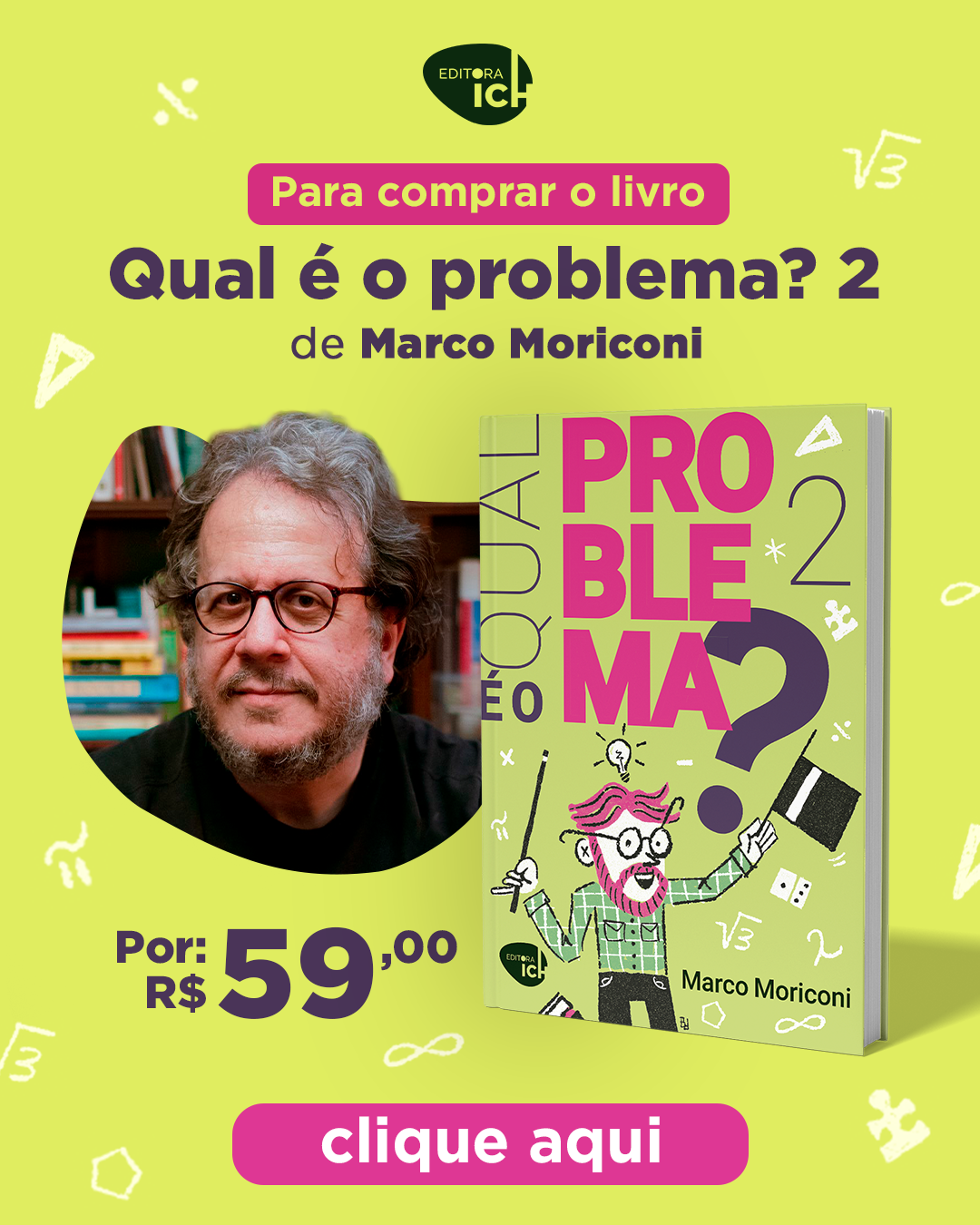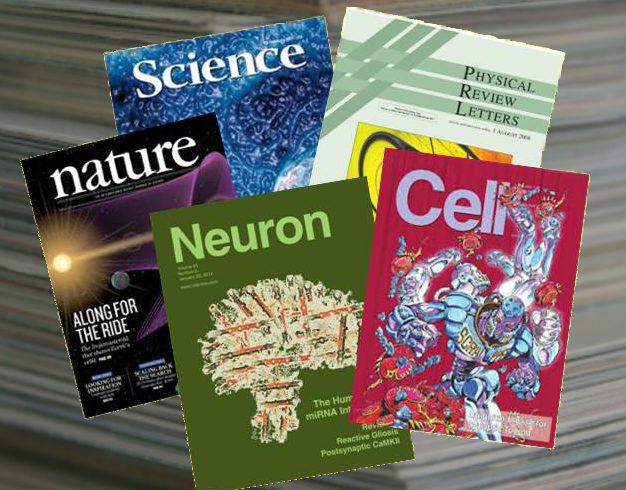A criação de mitos parece ser uma necessidade humana, algo que formaliza, em palavras ou em crenças, o desejo inconsciente de preencher algum recanto intranquilo de nossas mentes. A criação de heróis é um exemplo típico. Se eles não realizaram de fato certos feitos, o imaginário popular trata de preencher, de modo convincente, essa lacuna. Assim, os mitos duram até que alguém decida investigar a veracidade dos relatos.
Em interessante comentário na revista científica Nature (v. 502, nº 7.469, p. 32, 2013), Heloise Dufour e Sean Carroll abordam essa tendência de exacerbar o papel histórico de certos personagens, focando em Joseph Meister, Alexander Fleming e John Snow (ver ‘História da ciência e mitos’ em Ciência Hoje n° 309, disponível para assinantes no Acervo Digital).
A participação de cada um deles em eventos que tangenciaram a ciência foi amplificada. No caso de Fleming, por exemplo, não bastou a descoberta da penicilina: atribui-se a ele a produção do medicamento em grandes quantidades, o que, na verdade, foi feito por Howard Florey. Este, sim, calcula-se, salvou mais de 80 milhões de vidas. Fleming teria também salvo a vida de Sir Winston Churchill duas vezes. Uma de afogamento e outra com a penicilina. Pura lenda urbana.
Por vezes os mitos são impessoais e, nesse caso, têm funções variadas, desde validar preconceitos até trazer a esperança de uma vida longa e de qualidade. O ressurgimento de pesquisas que abordam a relação entre o DNA e o comportamento, tema tratado aqui em várias colunas, é um exemplo da necessidade humana de, com base na ciência, reforçar não necessariamente a curiosidade que deve nortear os caminhos da investigação, mas o ideário previamente implantado em nossas mentes.
Níveis de tabu
Em outro trabalho, na mesma edição da Nature, Erika C. Hayden avalia os níveis de tabu gerados por tipos diferentes de trabalhos científicos em genética. Os que envolvem a pesquisa do chamado quociente de inteligência (QI) atingem, segundo a autora, ‘alto nível’ de tabu, superado apenas por qualquer projeto que envolva o estudo de raças humanas (‘nível muito alto’).
Em contraste, estudos sobre a herança genética da violência, ou da orientação sexual, merecem ‘nível moderado’, talvez porque o atual convívio cotidiano com ambas as manifestações ajude a diluí-las. Hayden acrescenta que esse tipo de mito é reforçado com cada vez mais força por conta da doutrina de que a genética é sinônimo de destino. Apesar de contarmos hoje com a sofisticada tecnologia que destrincha os genomas em pouco tempo e que, sistematicamente, mostra-se incapaz de fornecer subsídios que sustentem os projetos do tipo tabu, a noção de que somos todos escravos do DNA não esmorece.
Algo semelhante acontece com a informática. Possivelmente como resultado da grande influência desta em nossas vidas, cresce o contingente dos que precisam acreditar que o mundo virtual terá um papel importante na conquista da longevidade do cérebro. Embora tenha sido mostrado, já em 2010, que não há correlação entre bom desempenho mental e a prática de jogos de computador, a lenda recrudesce.

- A tentativa de manter idosos jogando o NeuroRacer para melhorar sua capacidade de realizar multitarefas busca o endosso científico, mas ainda não sobrevive a um exame mais rigoroso. (foto: YouTube.com)
A nova tentativa de manter idosos horas a fio diante de computadores jogando o NeuroRacer, para melhorar sua capacidade de realizar multitarefas, é o tema de Alison Abbott, também na Nature (v. 501, nº 7.465, p. 18, 2013). Essa prática contemporânea de transformar-nos a todos em malabares mentais busca o endosso científico, mas ainda não sobrevive a um exame mais rigoroso.
Abbott alerta que neurocientistas e psicólogos acreditam que tanto o poder de concentração quanto a capacidade de memória são parâmetros fixos, que não se modificam, seja qual for o estímulo. Esses cientistas, porém, confrontam-se não apenas com os fabricantes de jogos de computador, mas também com o poder da mitologia, do desejo coletivo. De fato, é muito difícil convencer nossos pares de que somos mortais e que nossos últimos dias serão cercados de senescência.
Franklin Rumjanek
Instituto de Bioquímica Médica
Universidade Federal do Rio de Janeiro