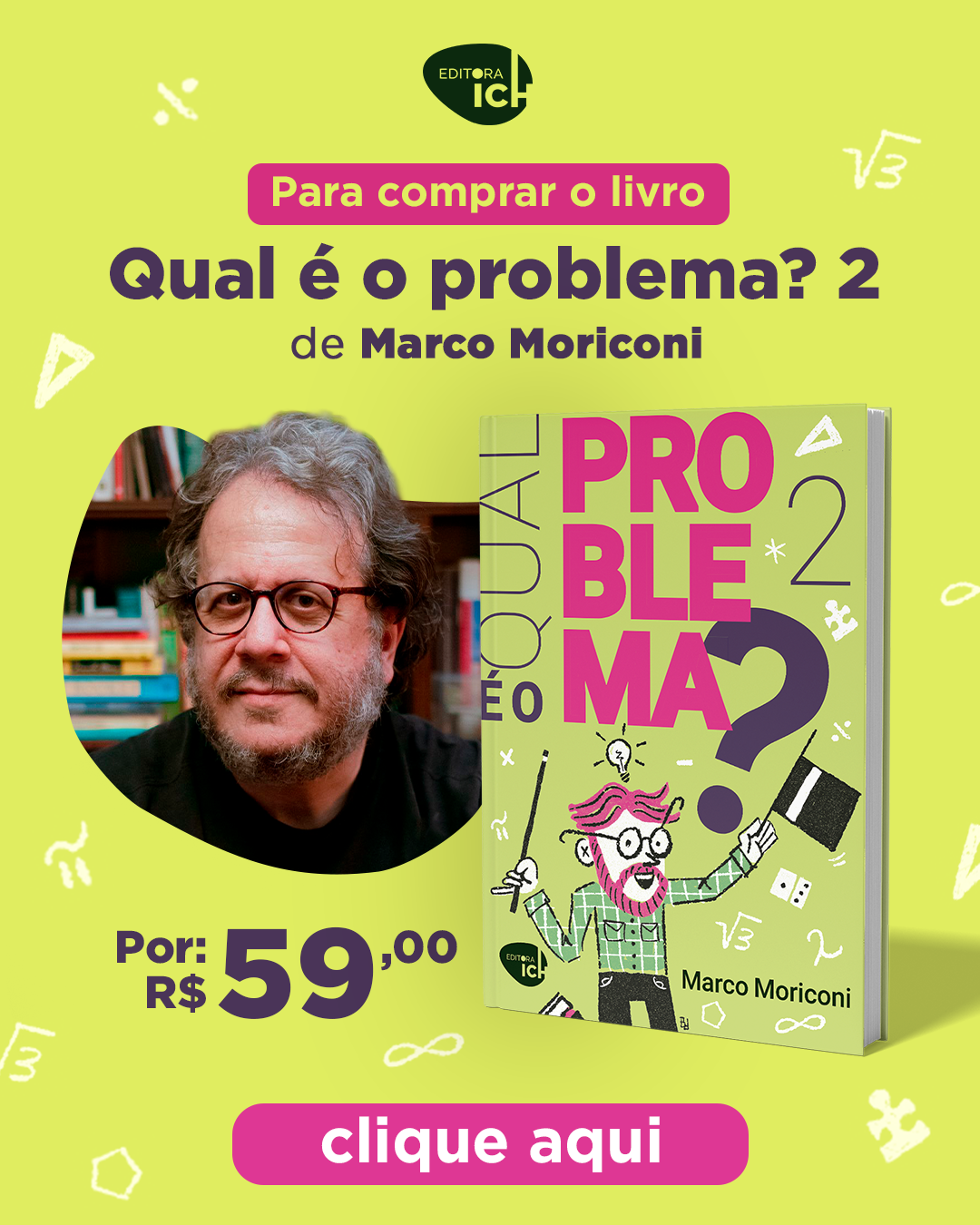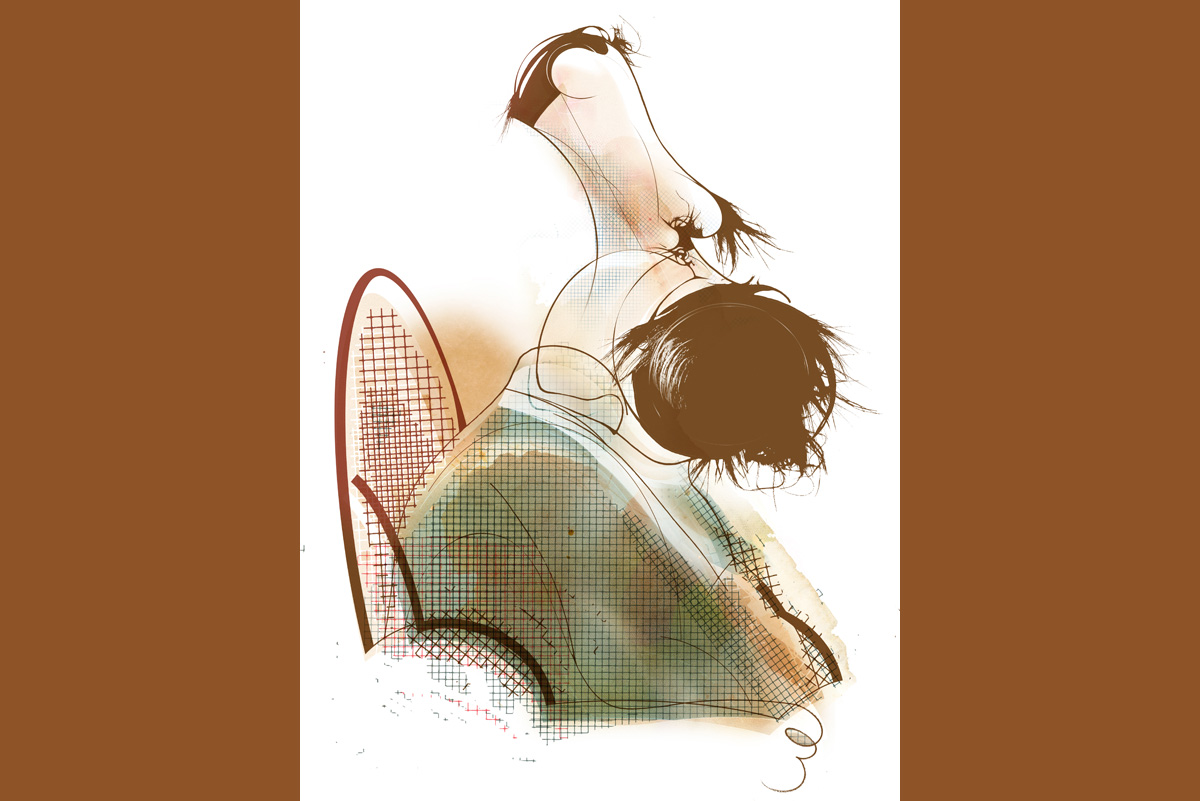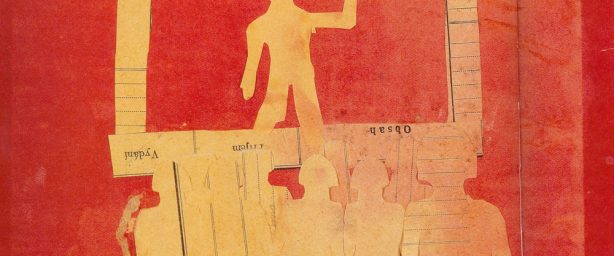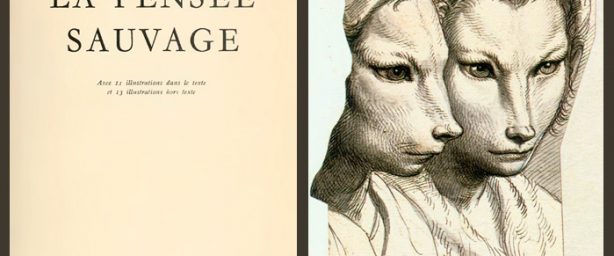O jogo, o risco e o hábito
por Alba Zaluar
MMA (Mixed Martial Arts) – Artes Marciais Mistas, na tradução para o português – origina-se de um evento programado em 1993 por um brasileiro, Rorion Gracie, que havia emigrado para os Estados Unidos a fim de divulgar o que hoje se denomina ‘o jiu-jítsu brasileiro’.
A ideia era provar, por eliminação simples, que técnica de luta seria mais eficaz em uma competição com poucas regras, na qual homens vindos de diferentes artes marciais se enfrentariam. O novo entretenimento foi chamado Ultimate Fighting Championship (UFC) e logo se tornou muito popular, mesmo quando proibido em razão da violência exibida pelos contendores.
No primeiro UFC, Royce Gracie, irmão de Rorion, derrubou três oponentes em uma noite, alguns muito maiores do que ele, comprovando a superioridade de técnicas do jiu-jítsu que tinham por objetivo eliminar o oponente. Era então um tipo de vale-tudo, uma forma extrema e brutal de luta competitiva, em que dois homens lutavam até nocautear, sufocar ou subjugar o adversário.
Em 1995, em função de pressões do público televisivo e de políticos, as regras mudaram, havendo preocupação com os danos causados nos lutadores. Mas as técnicas dos Gracie continuam sendo usadas junto com as de outras artes marciais.
A violência no combate, que chocava os espectadores mais sensíveis, sofreu pouco a pouco tentativas de controle, principalmente pelas regras que definem o fim da luta, mas não pelas regras da luta propriamente dita. Em outras palavras, continuou sendo válido empregar qualquer técnica de ‘arte’ marcial para apagar, derrotar, eliminar o adversário; no entanto, regras para terminar a luta visam impedir um mal maior. Por isso, há tantas maneiras de decidir o fim da luta: desistência, nocaute, nocaute técnico, decisão judicial, cancelamento por falta de segurança. Apenas a desqualificação ou a luta sem resultado referem-se às regras do combate que não foram obedecidas.
Todas essas possibilidades de fim da luta têm como objetivo evitar que os lutadores sofram ferimentos ou sejam encurralados de forma que não possam revidar os ataques do adversário. Isso demonstra o quanto a luta incita a agressividade de quem está nela ou a assiste.

- Apesar das tentativas de se atenuar a violência no MMA, a luta continua oferecendo riscos para os atletas. Pesquisadora reflete sobre a falta dos valores esportivos nessa modalidade e sugere que ela possa impactar negativamente a conduta dos jovens. (foto: Flickr/ dankos-unlmtd – CC BY-NC-ND 2.0)
Em pesquisa feita nos Estados Unidos, 40,3% das contendas resultaram em ferimentos para um dos lutadores, atingindo muito mais os que perdiam a luta por nocaute e os mais velhos. Esses ferimentos atingiam principalmente a face e a maior preocupação dos organizadores foi diminuir a possibilidade de danos ao cérebro dos esportistas, evitando a dementia pugilistica com a diminuição dos golpes desferidos contra o crânio do adversário.
Todas as iniciativas demonstram também que a luta apresentava, desde o início, riscos à saúde dos lutadores e, provavelmente, incitava a transferência ou identificação dos espectadores com aquele que vencia esmagando o outro. Dizem os seus defensores que, hoje, pela regulamentação, seria uma luta menos danosa do que o boxe.
No entanto, mesmo que se encontrem algumas das características de qualquer esporte nessa atividade – o prolongamento da diversão, a existência de regras para evitar que os participantes sejam feridos, a imprevisibilidade –, ainda assim não se destaca o que caracteriza o espírito esportivo, ou seja, que o jogo é mais importante do que a vitória. Na luta, importa muito mais esmagar o adversário. E isso é uma preparação para o que se denomina hipermasculinidade ou aquela postura que se impõe pela força, pela superioridade física, pelo domínio sobre os mais fracos.
Esse é um hábito ou uma postura avessa àqueles exigidos pelo diálogo, pela troca de ideias, pelo reconhecimento dos direitos alheios – posturas e hábitos que constituem a base da democracia. Cabe, portanto, a pergunta: estaremos estimulando os jovens a se tornarem adeptos da lei do mais forte e a desistirem do diálogo como forma de resolver os conflitos e os dissensos?
Alba Zaluar é professora de antropologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e professora visitante do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Uerj
______________________
Jeitinho brasileiro
por Antonio Engelke
São muitas e diversas as artes marciais existentes. Mas todas partem do princípio de que derrubar o oponente e ficar ‘por cima’ dele é condição necessária para vencê-lo ou, pelo menos, o melhor caminho. Em outras palavras, todas as modalidades de luta partilharam desde sempre de um mesmo objetivo: derrubar o adversário, se possível nocauteando-o; ou, uma vez tendo-o arremessado ao solo, mantê-lo imobilizado com as costas no chão.
Foi assim durante séculos – até a chegada da família Gracie. Conhecidos por terem criado ‘o jiu-jítsu brasileiro’, os Gracie estavam convencidos de que a arte marcial que haviam inventado colocava esse princípio por terra. Queriam provar ao mundo que era possível lutar, e vencer, com as costas no chão, mesmo que com um adversário mais pesado e forte ‘por cima’.

- O MMA surgiu do desejo da família Gracie de provar, com a arte marcial por ela criada, que era possível vencer um oponente com as costas no chão. O jiu-jítsu teria, portanto, colocado por terra o princípio de que derrubar o oponente e ficar ‘por cima’ dele é condição necessária para vencê-lo. (foto: Coast Guard/ Flickr CC BY-NC-ND 2.0)
O MMA é fruto dessa obsessão particular. Em 1993, Rorion Gracie organizou, nos Estados Unidos, o UFC, evento de ‘vale-tudo’, no qual 16 lutadores de diferentes modalidades se enfrentaram numa mesma noite, em combates disputados sem regras, luvas, rounds ou limite de tempo.
Royce Gracie, o mais leve de todos os competidores, lutou três vezes naquela ocasião. Foi campeão sem um olho roxo sequer. A decisão de escalar Royce, e não Rickson, que era indiscutivelmente o melhor e mais forte Gracie, partiu do próprio Rorion. Queria exibir o jiu-jítsu encarnado numa pessoa de biótipo magro, não num atleta de porte físico invejável.
Royce foi escolhido porque seu triunfo representaria à perfeição o que os Gracie pretendiam demonstrar: que o jiu-jítsu era o único estilo de luta que permitia a Davi derrotar Golias – e de uma maneira inédita. Deu certo, e ele acabou vencendo três das quatro edições iniciais do UFC, usando somente o jiu-jítsu de sua família. As imagens da técnica sobrepujando a força bruta perturbaram a paz milenar do mundo das artes marciais, irreversivelmente.
Como o talento da família Gracie estivesse mais nos tatames do que em salas de reuniões, Rorion vendeu a marca UFC, em 2001, por cerca de dois milhões de dólares. Hoje, o UFC está avaliado em dois bilhões de dólares e o MMA é o esporte que mais cresce no mundo. Profissionalizou-se: há regras, rounds, categorias de peso, testes anti-doping e reality shows.
O sucesso, contudo, é algo que só muito raramente vem sem polêmica. Não é difícil encontrar, por exemplo, quem veja no MMA pura selvageria, verdadeira rinha humana, que dessensibiliza por meio da espetacularização da violência – a agressividade desmedida, o sangue jorrando, a excitação voyeurística levada ao paroxismo em replays slow motion – razão pela qual deveria ser proibido.
Por outro lado, há quem afirme que o MMA é menos violento do que aparenta: luvas de boxe, porque espessas, não raro acabam causando danos cerebrais permanentes, pelo impacto contínuo que propiciam; mas basta um bom soco com luva de MMA para abrir um supercílio e encerrar a luta. Além disso, se ampliarmos o princípio de modo a pedir a proibição de tudo o que espetaculariza a violência, logo nos veremos na incômoda posição de reivindicar censura prévia para filmes de Hollywood e jogos de videogame.
Não cabe aqui julgar a validade de ambas as perspectivas. Meu propósito é mais modesto: por ora, não vai muito além da observação de que o MMA – como o futebol, o samba e a depilação íntima minimalista – é mais um produto de exportação do Brasil.
Brasileiros são bons, excepcionalmente bons, quando se trata de machucar adversários em arenas de MMA. Obviamente, os tempos em que a pura técnica do jiu-jítsu bastava para garantir a vitória ficaram para trás; hoje, o atleta que se pretenda de ponta deve ser no mínimo igualmente bem treinado em wrestling e muaythai ou boxe.

- Anderson Silva, campeão dos pesos médios do UFC. Engelke: ‘Brasileiros são bons, excepcionalmente bons, quando se trata de machucar adversários em arenas de MMA’. (foto: Tiago Hammil/ Flickr – CC BY-NC-SA 2.0)
Não deixa de haver certa ironia aí. O MMA nasceu do desejo de uma família carioca de provar que era possível fazer as coisas de um jeito radicalmente diferente – somos franzinos e lutamos com as costas no chão, mas vencemos. Quando enfim torna-se um esporte reconhecido, no qual o sucesso depende sobretudo da habilidade em misturar técnicas distintas, lá estão os brasileiros novamente no topo (temos quatro campeões no UFC, metade das categorias).
Parece ser o caso de lembrarmos uma vez mais que, sim, inventamos nossos próprios modos; mas se tivermos que adicionar outros, se formos obrigados a bater tudo no nosso liquidificador antropofágico, tanto melhor. O MMA é apenas mais um dos nossos palcos.
Antonio Engelke é sociólogo e doutorando em ciências sociais na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.