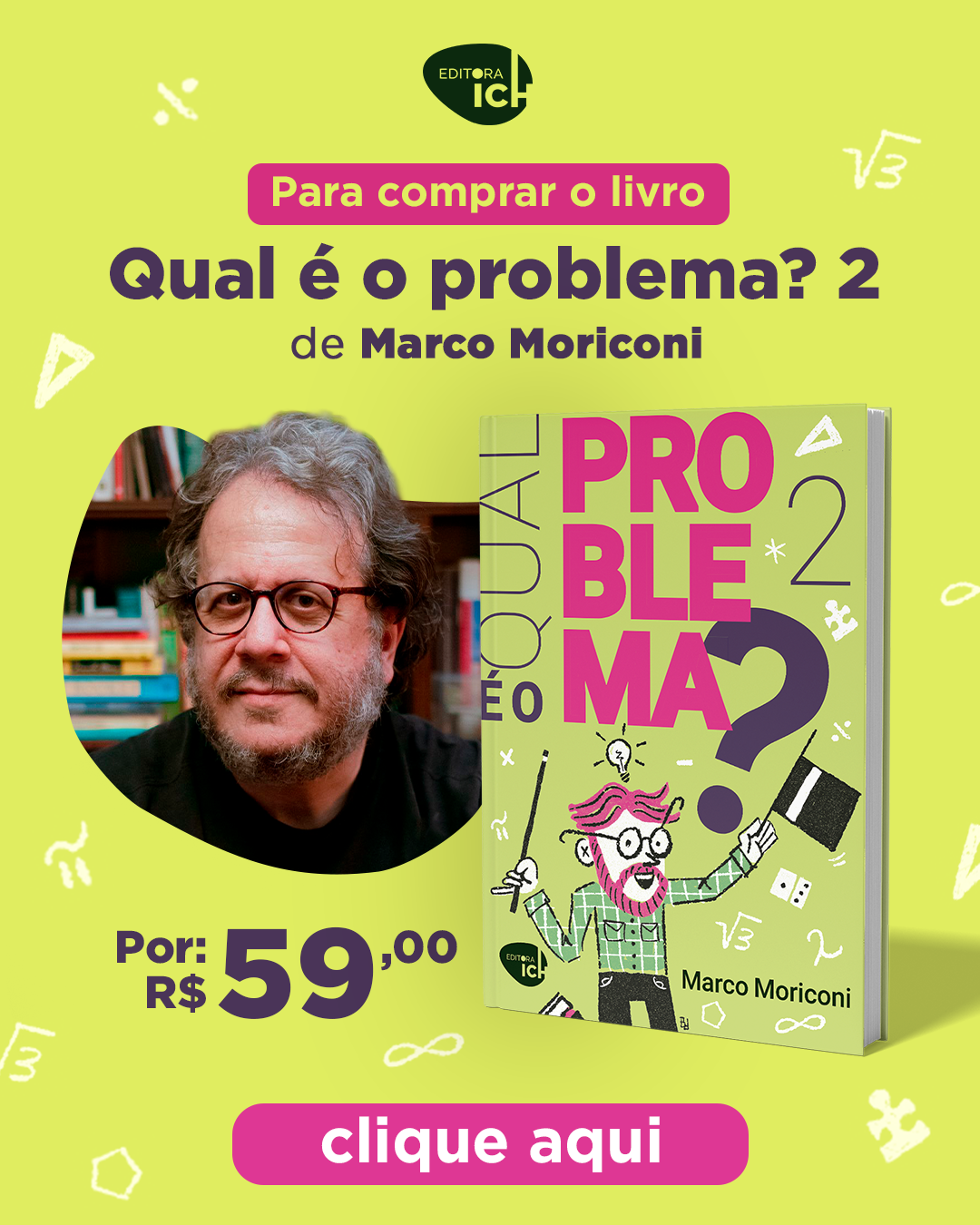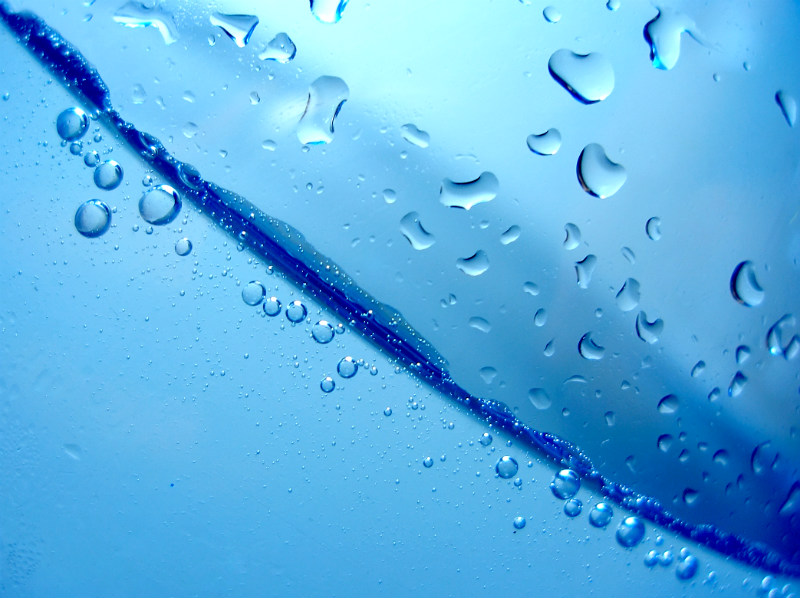Continua a ecoar a pergunta feita no século 4 a.C. por Aristóteles (ou por um de seus discípulos): “Por que todos os homens excepcionais em filosofia, política, na poesia e nas artes foram melancólicos?”
Segundo a antiga doutrina médica dos humores corporais, a melancolia ou ‘bile negra’ propicia um acesso privilegiado a esferas superiores do entendimento e da imaginação. Em compensação, condena o indivíduo a um temperamento sempre instável e tempestuoso, de quem vive na oscilação entre a euforia do visionário e a depressão do misantropo.
A mesma excepcionalidade que permite a excelência atrai – como a ’desmesura’ dos heróis trágicos – a recompensa de uma permanente insatisfação. Além de uma consciência excepcionalmente aguda dos próprios limites, porque o desmedido nunca basta para deixar de ser incompleto.
Um livro melancólico?
Mas e quanto aos livros excepcionais, que rompem caminhos e fundam todo um campo de indagações que eles próprios estão longe de esgotar? Vale a mesma questão? Pode um livro ser ‘melancólico’?
Já se passaram 50 anos desde a publicação do trabalho mais importante sobre as relações entre a ‘bile negra’, a filosofia, a literatura e as artes: Saturn and melancholy, de Raymond Klibansky, Erwin Panofsky e Fritz Saxl (Londres: Nelson & Sons, 1964). O subtítulo dá uma boa ideia da amplitude do tema: ‘Estudos de história da filosofia natural, da religião e da arte’. Embora o objetivo principal de suas quase 500 páginas seja simplesmente a interpretação de uma única obra de arte: a gravura Melancolia I, criada em 1514 pelo maior artista alemão dos tempos da Reforma, Albrecht Dürer.
O livro tem uma história tão tumultuada que se confunde com a do próprio século 20. É difícil resistir à tentação de ver nele uma espécie de cristalização do seu tempo – exatamente como ele mesmo parece fazer acerca da gravura de Dürer. Nessa pressuposição de uma ‘totalidade’ epocal ou cultural é que reside o aspecto mais controverso e questionável desse clássico da história da arte.
Panofsky e Saxl iniciaram o trabalho na Alemanha dos anos 1920. Eles pertenciam ao círculo do historiador da arte Aby Warburg, cuja lendária ‘biblioteca de ciências da cultura’ utilizavam cotidianamente. Seu primeiro trabalho sobre a enigmática gravura de Dürer foi publicado em 1923, em alemão, quando o grande inspirador dos autores estava ausente, internado numa clínica psiquiátrica, na Suíça.
Warburg enfrentava crises de depressão desde o início da década, com sintomas que os médicos da Antiguidade não deixariam de associar à melancolia dos letrados e dos artistas. Ao mesmo tempo, a Alemanha também parecia enlouquecer, mergulhada na hiperinflação delirante que contribuiria para instigar o radicalismo político e, pouco depois, a ascensão do nazismo.
Panofsky já estava desenvolvendo seu método de interpretação na história da arte, a iconologia. Para ele, a tarefa do historiador da arte era buscar, em cada obra, seu significado histórico-cultural “num sentido mais profundo” – sentido revestido de um teor transcendental nem sempre explicitado, ligado a noções herdadas do século 19, como as de ‘espírito do tempo’ ou ‘visão de mundo’.
Panofsky e Saxl retomaram a pesquisa com a adesão de Klibansky, então um jovem estudante de filosofia, também, como eles, de origem judaica. A escalada do antissemitismo logo os dispersaria. Saxl seguiu para Londres, onde fundaria o Instituto Warburg, com a biblioteca de seu mestre, morto em 1929. Klibansky partiu para Oxford e, depois, para o Canadá. Panofsky viria a se tornar o grande pioneiro da história da arte nos Estados Unidos.
À distância, eles chegaram a uma primeira versão do livro, a ser publicado por uma editora alemã. As matrizes de chumbo já estavam compostas quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial, mas foram destruídas no conflito. O trabalho só pôde ser retomado depois do armistício, a partir de uma cópia das provas que por sorte fora preservada, em Londres.

- A exposição aberta em 2005 no Grand Palais, em Paris, ‘Melancolia – o gênio e a loucura no Ocidente’, que reuniu obras de todas as épocas, como o ‘Pensador’, de Rodin, mostra que o fascínio da melancolia só aumentou. (foto: Wikimedia Commons – CC BY-SA 3.0)
Uma nova versão estava em andamento, em inglês, quando sobreveio a morte de Saxl, em 1948. Outras interrupções se seguiram até a impressão da edição inglesa. As traduções começaram a surgir tempos depois da morte de Panofsky, em 1968. A primeira foi para o italiano, em 1980, mas a mais importante foi a francesa, que recebeu acréscimos introduzidos por Klibansky (Saturne et la mélancolie. Trad. de Fabienne Durand-Bogaert e Louis Évrard. Paris: Gallimard, 1989).
Para interpretar a alegoria criada por Dürer, Panofsky e seus colaboradores retomaram a antiga doutrina dos quatro temperamentos da medicina hipocrática e seus posteriores cruzamentos com a astrologia árabe. Sangue, cólera, melancolia e fleuma seriam os humores cuja proporção (ou krásis) determina a condição fisiológica e psíquica de cada indivíduo.
As vítimas da ‘bile negra’ ficavam associadas ao deus Saturno, que foi desterrado da Idade de Ouro por seu filho Júpiter – mas também ao planeta Saturno, que era considerado o mais elevado e obscuro.
Homem de letras
Com um esforço de erudição no mínimo hercúleo, Saturno e a melancolia vai aos poucos revelando uma narrativa subjacente: a emergência da noção humanista de homo literatus, o ‘homem de letras’. Eis o verdadeiro herói trágico do livro, mago e profeta, filósofo e artista, fonte e arquivo da consciência do Ocidente.
O que seus encomiastas warburguianos não poderiam prever, ao iniciarem a evocação de seu perfil sombrio, era que, ao terminarem, o mundo que ele pretendia exaltar estaria arruinado pelas atrocidades do século 20.
Mesmo assim, desde a publicação da obra de Klibansky, Panofsky e Saxl, o fascínio da melancolia só aumentou. Prova disso foi a exposição aberta em 2005 no Grand Palais, em Paris: ‘Melancolia – o gênio e a loucura no Ocidente’. Mais de 250 obras foram ali reunidas: desde estelas funerárias da Grécia antiga até pinturas modernistas de Munch, De Chirico e Picasso, passando por pinturas de Goya, Delacroix e Van Gogh, entre muitas outras obras capitais da história da arte ocidental, como o Pensador, de Rodin, e – é claro – a gravura Melancolia I, de Dürer.
Sérgio Alcides
Faculdade de Letras
Universidade Federal de Minas Gerais