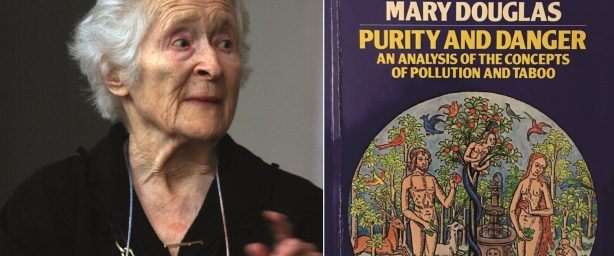Embora muito dessemelhantes, há alguns paralelos entre o mundo contemporâneo e aquele com que filósofos ingleses como Thomas Hobbes (15881679) e John Locke (16321704) se defrontaram no século 17. Notadamente, enfrentamos, hoje – do mesmo modo que eles, então, o fizeram –, graves desafios associados à convivência pacífica em comunidades marcadas pela diversidade e pelo conflito entre diferentes visões de mundo religiosas. Mais que a diversidade de religiões, porém – que, como diriam Hobbes e Locke, é inevitável –, o verdadeiro desafio à convivência decorre, no presente, tanto quanto decorria no século 17, do protagonismo público de grupos ou movimentos religiosos radicais, fechados à crítica e infensos ao reconhecimento da pluralidade de convicções.
Com efeito, verificase, hoje, uma tendência global de fortalecimento de grupos ou movimentos que, apresentando-se como portadores privilegiados da verdade divina, arrogam-se autoridade para determinar a lei e a moralidade públicas. Em todo o mundo – inclusive no Brasil –, a expansão de direitos civis tem sido bloqueada ou contestada, em nome de valores religiosos, não raro de maneira violenta. Uma vez que tais fenômenos desafiam a ‘dessacralização’ da política – isto é, a destituição da autoridade civil de seu papel na salvação religiosa pessoal – sobre a qual se fundamentam os Estados modernos ocidentalizados, cumpre se perguntar, mais uma vez, sobre as condições históricas de sua concepção.
Confessionais e laicos
Na teoria política liberal moderna, considerase que os Estados devam ser seculares, ou seja, isentos de ambições ou obrigações religiosas. Reconhecendo que a busca pela salvação é assunto privado, permitem que cada indivíduo a persiga da forma que lhe aprouver, limitando-se a arbitrar e supervisionar sua dimensão pública, de modo a evitar o potencial conflito decorrente da oposição entre diferentes visões. Na história da Europa cristã, essa concepção é um legado daquilo que chamamos Iluminismo, tendo sido elaborada em reação à dramática situação de guerra civil religiosa que se seguiu à pluralização da cristandade pela Reforma protestante. Como forma alternativa de articular religião e autoridade civil, ela se opunha ao princípio do ‘Estado confessional’, que predominara na Europa medieval e pósReforma.
Com base na autoridade patrística (isto é, dos chamados primeiros padres, responsáveis por estabelecer os fundamentos doutrinais da Igreja), em especial de Santo Agostinho, a Igreja Católica Romana, desde os primeiros tempos de sua conversão em religião pública, recorreu ao braço armado do poder temporal para perseguir as ‘heresias’ e garantir a uniformidade da doutrina e do ritual considerados ‘católicos’ (universais), da qual se supunha depender a unidade e estabilidade da cristandade.
Rompendo essa unidade, a Reforma protestante não significou, como se poderia pensar, um abandono do ideal de uniformidade religiosa, mas, sim, a multiplicação de ‘catolicismos’, cujos sacerdotes recorriam aos mesmos argumentos patrísticos para dirigir a espada do príncipe contra os que consideravam heréticos e apóstatas, ou seja, aqueles que teriam renegado e abandonado a doutrina e fé ortodoxas – sempre os outros. Segundo essa visão, compartilhada pelas diferentes igrejas em conflito, a heresia, sendo sinônimo de licenciosidade moral, cisma e sedição política, representava tanto uma ofensa a Deus quanto uma ameaça à ordem civil.
As últimas décadas do século 17, na Inglaterra, período conhecido como a Restauração, foram decisivas para a teoria do Estado secular. Normalmente considerada pela historiografia como uma fase conservadora, a Restauração testemunhou, no entanto, um amplo debate acerca da tolerância religiosa e da liberdade de consciência, no qual os fundamentos do Estado confessional foram seriamente questionados e as bases de um modelo alternativo de articulação entre autoridade civil e religiosa, lançadas.
Perseguição aos ‘hereges’
Após um período de quase 20 anos de instabilidade, iniciado com uma longa e cruenta guerra civil religiosa, em 1642, esperava-se que a restauração da monarquia, em 1660, trouxesse paz à Inglaterra. No entanto, a intransigência dos poderes restabelecidos em reconstituir um Estado confessional, sem levar em consideração as transformações introduzidas durante o recente período revolucionário – notadamente, a maior diversidade religiosa da população e a consciência mais aguda e disseminada entre as pessoas de que elas detinham algum tipo de domínio, de soberania, sobre as suas vidas privadas e sobre as suas ‘opiniões’ religiosas e políticas –, acirrou novamente as tensões que haviam originalmente levado à guerra civil.
 A gravura publicada no Livro dos mártires, de John Foxe, retrata os preparativos para estrangular e queimar o protestante inglês William Tyndale, que traduziu a Bíblia para o inglês (imagem: Wikimedia Commons)
A gravura publicada no Livro dos mártires, de John Foxe, retrata os preparativos para estrangular e queimar o protestante inglês William Tyndale, que traduziu a Bíblia para o inglês (imagem: Wikimedia Commons)Amparados por uma nova legislação que definia como ‘dissidentes’ ou ‘não conformistas’ todos aqueles que discordavam da doutrina, liturgia e forma de governo eclesiástico oficiais, e os submetia a sanções financeiras e físicas, e ideologicamente por aquilo que foi descrito como uma ‘teoria anglicana da perseguição’, os poderes eclesiástico e civil da Restauração buscaram sistematicamente impor, por meios coercitivos, uma uniformidade religiosa sobre uma sociedade plural.
Sob o impacto de uma perseguição brutal, que afetava um vasto segmento da população, defesas da tolerância religiosa e da liberdade de consciência tornaram-se cada vez mais comuns ao longo da Restauração, contribuindo para articular uma oposição vigorosa ao estabelecimento políticoeclesiástico vigente e a sua política persecutória. Uma das mais notáveis contestações da racionalidade e prática da intolerância, nesse período, foi pronunciada pelo filósofo laico Thomas Hobbes, em um pequeno e, hoje, pouco conhecido texto intitulado Uma narração histórica sobre a heresia e sua punição. Por meio de uma análise históricolinguística sobre a natureza e função da noção de ‘heresia’ nos primeiros séculos do cristianismo, Hobbes questionou a racionalidade da intolerância religiosa, defendendo, ao mesmo tempo, o princípio da autonomia individual na busca pela verdade.
Nesse texto, publicado postumamente, em 1680, Hobbes lembra-nos de que a palavra heresia é de origem grega e que, originalmente, significava nada mais que a tomada de uma opinião particular. Sua conversão em um termo negativo e a consequente determinação de punições, como excomunhão e morte, para os ‘hereges’ foi um processo concomitante à consolidação do poder da Igreja.
Acompanhando esse processo em suas várias etapas, Hobbes mostra que é sempre um poder terreno que define o que é a doutrina ‘correta’ – excluindo outras opiniões igualmente legítimas – em função de um interesse mundano particular. Sendo assim, defende, então, que a determinação de uma doutrina oficial seja uma prerrogativa exclusiva da autoridade civil e, não, das autoridades eclesiásticas. Enquanto estas tendem a restringir a liberdade privada dos cidadãos de inquirir sobre a verdade religiosa, impondo certas ‘opiniões’ como ‘artigos de fé’ supostamente indispensáveis à salvação, o poder civil preservaria essa liberdade privada, uma vez que procederia no estabelecimento de uma religião pública, não segundo razões teológicas (ou em vista da salvação coletiva da comunidade), mas segundo um cálculo político, com o único objetivo de garantir a ordem e a paz civil.
Entre Estado e Igreja
Dessa forma, ainda que Hobbes defenda a necessidade de uma religião de Estado, ele a esvazia de qualquer relação com a verdade ou com a salvação da alma, abrindo caminho para o argumento posteriormente desenvolvido por John Locke, em sua Carta sobre a tolerância (1789), em favor da separação entre Igreja e Estado. O princípio por trás da famosa declaração de Locke de que não existe algo (prescrito pelo Evangelho) como um ‘Estado cristão’ encontrava-se também em Hobbes.
Em sua defesa da separação entre a Igreja e o Estado, Locke lança mão de três modos de argumentação recorrentes em círculos humanistas e protestantes esclarecidos: (1) a noção, de origem estoica, de que muita coisa, no âmbito da prática e da doutrina cristãs, seria adiáfora (indiferente), já que não teria sido explicitamente prescrita por Cristo como necessária à salvação. Sendo assim, e sendo os homens criaturas falíveis, haveria necessariamente uma latitude considerável em matéria doutrinária e litúrgica, de modo que tentar impor à força determinadas doutrinas ou rituais seria algo não apenas injustificável, mas também condenável como uma quebra do princípio da caridade (esse, sim, indispensável à salvação, na visão de Locke); (2) a denúncia (chave no assalto protestante ao catolicismo medieval) de que sacerdotes, motivados por interesses mundanos, teriam corrompido a pureza e simplicidade da mensagem cristã original; (3) finalmente, e articulada a essas duas, a defesa intransigente da autonomia da consciência individual na busca pela verdade religiosa. Não é que não se devam ouvir os argumentos e conselhos de outros; muito pelo contrário, o diálogo é crucial na busca pela verdade, mas, ao fim e ao cabo, sendo todos os homens criaturas falíveis, ninguém está em posição melhor para saber a verdade, e cada um deve ter liberdade para escolher seu próprio caminho. Seguir esta ou aquela religião deve ser uma questão de escolha individual e não uma determinação de qualquer tipo de autoridade.
 A gravura de Jan Luyken O martírio de Anneken Hendriks mostra o martírio da cristã anabatista holandesa em 1571. Ao ser interrogada, Anneken negou-se a delatar outros menonitas como ela. Foi torturada e cruelmente executada: o carrasco encheu sua boca com pólvora e a amarrou a uma escada, jogando-a sobre as brasas. (imagem: Mennonite Library and Archives / Bethel College)
A gravura de Jan Luyken O martírio de Anneken Hendriks mostra o martírio da cristã anabatista holandesa em 1571. Ao ser interrogada, Anneken negou-se a delatar outros menonitas como ela. Foi torturada e cruelmente executada: o carrasco encheu sua boca com pólvora e a amarrou a uma escada, jogando-a sobre as brasas. (imagem: Mennonite Library and Archives / Bethel College)Documento central na conformação da ideologia do secularismo jurídico iluminista, a Carta sobre a tolerância serviu de inspiração para uma série de leis e constituições republica nas, nos séculos 18, 19 e 20, a começar pelo Estatuto da Virgínia para a liberdade religiosa (1786), redigido por Thomas Jefferson (17431826), um dos chamados pais fundadores dos Estados Unidos da América, logo em seguida a sua independência.
O estatuto baseia-se nos seguintes princípios: que “Deus todo poderoso criou a mente livre”; que, portanto, qualquer tentativa de influenciá-la por meios coercitivos é não apenas contrária aos planos divinos como também fútil, uma vez que produz apenas “hipocrisia e tolice”; e que qualquer pretensão por parte dos poderes civis ou eclesiásticos de assumir domínio sobre a fé alheia, impondo suas próprias opiniões como verdadeiras e infalíveis, é injustificável, já que estes são apenas “homens falíveis e não inspirados”, como todos os demais. Segue-se daí a rejeição de qualquer forma de religião pública. Jefferson é taxativo: “nossos direitos civis não dependem de nossas opiniões religiosas, não mais do que de nossas opiniões em física ou geometria”.
Liberdade tolerante
Erigindo um muro entre a religião e a política na nova república, os princípios de Jefferson contribuíram para conformar um influente modelo para o governo de comunidades com valores religiosos diversos e potencialmente conflitivos. Ironicamente, esse modelo assentava-se sobre uma determinada tradição intelectual que se desenvolvera no interior da religião cristã. Tradição esta, que, no entanto, valorizava não a certeza, impossível e arrogante, mas a dúvida tolerante; não a presunçosa posse da verdade, mas a sua busca sincera, pois reconhecia a inevitável falibilidade dos juízos humanos.
Segundo essa tradição, se Deus, em sua infinita bondade e sabedoria, houvesse querido nos transmitir um conhecimento seguro, têloia feito a todos, desde sempre. A existência de uma diversidade de opiniões (e de religiões) seria o sinal de que Ele preferira deixar que nós o buscássemos por conta própria, em diálogo uns com os outros.
De Hobbes e Locke até Jefferson, passando pelos filósofos alemães Gotthold E. Lessing (17291781) e Immanuel Kant (17241804), entre outros, essa interpretação liberal e tolerantista do cristianismo é um dos mais importantes fundamentos ideológicos daquilo que chamamos iluminismo.
Mas mesmo a tolerância tem seus limites. Até que ponto deve se estender a autoridade do poder civil em seu papel de árbitro e regulador da dimensão pública da expressão religiosa? Uma questão tanto mais delicada quanto mais crescem aqueles grupos que, em nome de Deus, insistem em assumir um papel público mais ativo, na determinação de leis e normas de comportamento comunitário.
Porque Jefferson acreditava que a verdade naturalmente prevaleceria sobre o erro se deixada a si mesma, isto é, se não lhe fossem retiradas as suas “armas naturais, a livre discussão e o debate”, ele proíbe o magistrado civil de intervir no campo da opinião, restringindo a profissão e a propagação de ideias, com base na suposição de sua tendência perniciosa. Apenas quando a paz e a ordem civil fossem diretamente prejudicadas, o magistrado poderia intervir de maneira legítima.
Nesse aspecto, Locke tinha menos reservas do que Jefferson em relação à intervenção do magistrado no campo da opinião. Em sua Carta sobre a tolerância, sugere a imposição por parte do poder civil de condições e limites específicos ao direito à tolerância. Locke exclui do direito à tolerância doutrinas que atribuem aos seguidores de uma religião particular direitos e prerrogativas especiais, submetendo a autoridade civil a critérios espirituais. Tampouco os intolerantes merecem tolerância, para Locke. Mais do que isso: a condição fundamental para a tolerância deve ser pregar o “princípio de tolerância; e ensinar que a liberdade de consciência é o direito natural de todos os homens […], e que ninguém deveria ser coagido em assuntos de religião por nenhuma lei ou força”.
Sugestões de leitura:
CHAMPION, J. ‘Why the enlightenment still matters today’. Apresentação oral, Gresham College, 2012. Disponível em: http://www.gresham.ac.uk/lectures-and-events/why-the-enlightenment-still-matters-today.
DUARTE, J. de A. e D. ‘O progresso do peregrino: religião e política na gênese do iluminismo inglês, 1660-1714’. 2013. Tese defendida na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2013.
GRELL, O. P., Israel J., e Tyacke, N. (Orgs.). From persecution to toleration: The glorious revolution and religion in England. Oxford : New York: Clarendon Press; Oxford University Press, 1991.
GRELL, O. P., and Porter R. (Orgs.). Toleration in enlightenment Europe. Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2000.
LOCKE, John. Carta sobre a tolerância. São Paulo: Hedra, 2010.
ZAGORIN, P. How the idea of religious toleration came to the West. Princeton, N.J: Princeton University Press, 2003.
João de Azevedo e Dias Duarte
Programa de Pós-graduação em História Social da Cultura,
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)