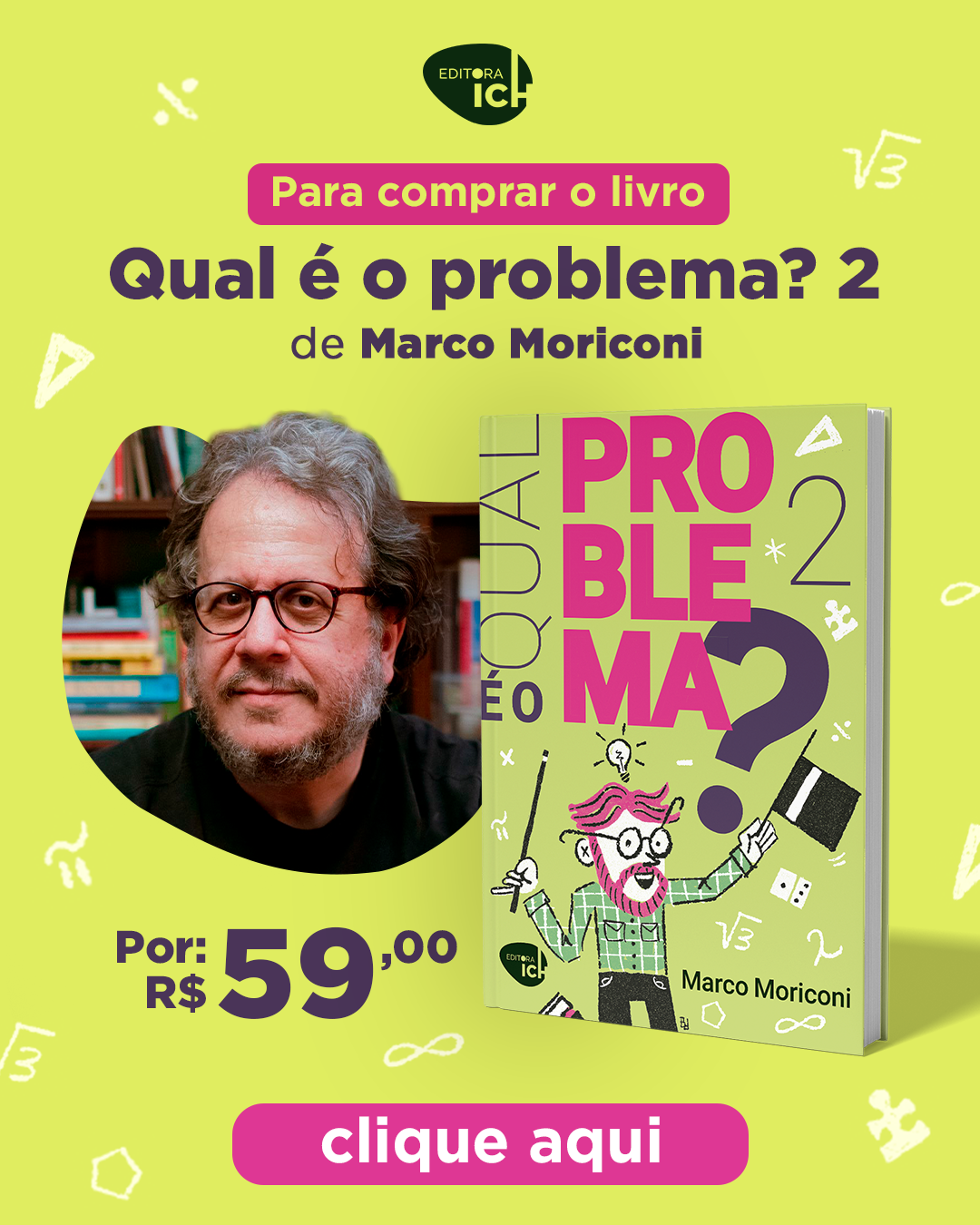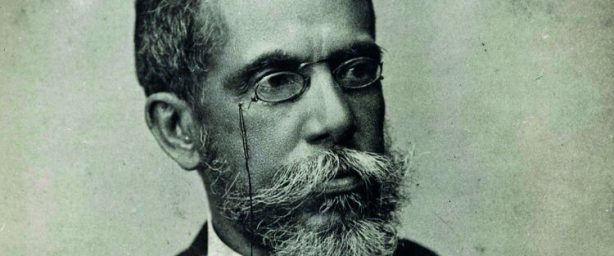Quando eu era menino – deveria ter uns 10 anos, porque me preparava para o exame de admissão no Colégio Estadual de Pernambuco –, meu pai era deputado estadual. E como estudava à tarde, costumava passar pela Assembleia legislativa depois das aulas, quando os deputados estavam reunidos em sessão.
Ficava sentado nas pequenas galerias laterais, esperando a carona paterna. Era a década de 1950, segunda metade do governo do general Osvaldo Cordeiro de Farias, e meu pai fazia parte de um minúsculo (acho que não chegava a meia dúzia) grupo de deputados de oposição. Na eleição de 1954, o PSD [Partido Social Democrático] juntara-se com parte grande da UDN [União Democrática Nacional] em torno da candi-datura do general, de modo que não sobrara para quase mais ninguém.
Eu seguia com imensa curiosidade aquele espetáculo, coordenado por um presidente plantado em uma bancada mais alta, que “concedia” a palavra ao “nobre deputado”, estabelecia o tempo da fala, ditava as regras de uma dramaturgia e uma coreografia conhecida por todos os atores. “Vossas Excelências” estropiavam com frequência a sintaxe, o vocabulário e as concordâncias; o que não me chocava particularmente.
Fascinava-me – a atração era intuitiva, decifrada agora – estar testemunhando uma cerimônia fora e acima do comum, tão importante que obrigava homens, por vezes rudes e rústicos, a se aterem àquelas normas de respeito mútuo, embora eu tivesse conhecimento dos conflitos e disputas entre eles; de episódios sangrentos e primitivos da política e mesmo de incidentes violentos nas próprias assembleias. Mas, nem por isso, aqueles salamaleques, aquele ‘faz de conta’ deixavam de ser coisa séria aos meus olhos. E para tal, se havia construído um edifício imponente, onde adultos de paletó e gravata (inclusive, meu pai) aceitavam se comportar daquela maneira.
Obviamente, eu não teria a ciência para seguir debates sobre reforma tributária, mas assisti espantado ao fim de um discurso de Clodomir Moraes, deputado esquerdista, que durara horas. Meu pai se divertia com aquilo. Dizia, ao voltar, que Clodomir fizera um histórico da tributação desde o Código de Hamurabi.
Foi aí que ele me explicou o que era uma ‘obstrução parlamentar’. E então, senhores e senhoras, achei aquilo de uma elegância ímpar, de um chiquê incomparável. A maioria sendo obrigada a aceitar que alguém fizesse de cara limpa uma palhaçada daquelas.
Igualmente, não tardei a observar que muitos, na verdade quase todos os deputados, andavam armados. Impossível não ver os revólveres por baixo dos paletós desabotoados que se abriam sobre as cartucheiras. Meu pai sequer tinha um revólver em casa.
Um dia, preocupado, perguntei por que não seguia aquela regra que parecia aceita por toda gente. Ele riu: “Por que você acha que eu preciso de revólver? ” E eu: “Mas, não é perigoso andar desarmado? ” Ao que o riso de banda respondeu: “Eles todos sabem que ando desarmado”.
De imediato, entendi a graça do paradoxo, a astúcia do mais fraco, que é capaz de utilizar valores que lhes são alheios em seu favor: afinal, a honra sertaneja proibia atirar em alguém desarmado. Porém, meu pai não tratava aqueles homens com condescendência ou superioridade. Na verdade, era como se mantivesse uma postura moral (também muito chique) que o fazia capaz de conviver com os colegas, sem partilhar daquilo que julgava inaceitável.
Talvez, por isso, nunca o vi pronunciar a palavra “inimigo” em política. Dizia sempre: adversário. Palavra que, à época, tinha para mim uma conotação, aí sim, não muito elegante, de locução esportiva.
José Almino de Alencar
Fundação Casa de Rui Barbosa/RJ