
CIÊNCIA HOJE: Como você avalia os atuais protestos antirracistas? No que diferem de outros, do passado? Representam um ponto de ruptura?
Karine Damasceno: Nos Estados Unidos, como aqui, o racismo é estrutural. Então, em curtos intervalos de tempo, temos notícias da violência policial, principalmente contra homens jovens negros. Todas essas violências provocam respostas da comunidade negra estadunidense, mas o que está acontecendo agora tem uma proporção muito maior. Acredito que uma das razões foi a cena ter sido filmada e assistida e compartilhada em todos os lugares do mundo. Como brasileira e negra, me sentindo parte dessa dor, quando vi a imagem de George Floyd dizendo “não consigo respirar”, eu também parei de respirar. Pessoas negras e não negras, no mundo todo, sentiram o mesmo. Outro grande diferencial é que, como o racismo é estrutural, a população negra é a que mais sofre com a covid-19. Mortalidade, desemprego, habitação precária… Várias questões vêm à tona e, somadas à violência policial, influenciaram nessa reação gigantesca. Mas não acho que os protestos levem a uma grande ruptura porque centram fogo na denúncia da violência policial, e não na necessidade de mudanças mais profundas na sociedade estadunidense. Por exemplo, o debate sobre reparação por conta da escravidão não aparece. Falar da violência policial é falar de um braço, e há várias outras instâncias, como educação, saúde, trabalho e poder. Isso, sim, mexeria com as estruturas do país. A resposta ao caso George Floyd foi à altura e foi inspiradora para negras e negros no mundo inteiro, mas a luta contra o racismo está em curso e há muito ainda o que se fazer.
CH: Como compara a luta antirracista nos EUA e no Brasil?
KD: Os processos de escravização, de independência e de abolição nos EUA e no Brasil foram completamente diferentes. Infelizmente diante das notícias das manifestações nos EUA, nós, negras e negros brasileiros, temos sido muito questionados sobre não haver reação equivalente aqui. Basta revisitar nossa história para ver que a experiência da população negra no Brasil sempre foi de luta pela liberdade, contra a escravidão e o racismo. Mas, só recentemente, há pouco mais de 30 anos para cá, a historiografia tem revisitado as produções em torno desse passado. Até então, o protagonismo negro na luta pela liberdade era invisibilizado. Isso faz com que as pessoas vejam o que está acontecendo nos EUA, mas não enxerguem que a população negra do Brasil enfrentou – e enfrenta – a escravidão e o racismo de forma muito contundente. A luta pela liberdade foi feita tanto a partir de um enfrentamento direto, com revoltas, queima de senzalas, assassinato de senhores, envenenamentos, fugas, como também foi travada na Justiça. Um número muito grande de pessoas escravizadas moveram ações contra senhores reivindicando a liberdade. As mulheres negras foram grandes protagonistas desse processo. Elas ousavam enfrentar senhores e senhoras nos tribunais. Pense no nível de vulnerabilidade que essas mulheres e esses homens viviam. Eles não eram donos dos próprios corpos e conseguiam se articular pela liberdade legal e, muitas vezes, foram vitoriosos. Quando, em 13 de maio 1888, se oficializa o fim da escravidão, um número muito grande de pessoas escravizadas já tinha conquistado a liberdade para si, para os seus familiares e também para outros integrantes da comunidade negra. Outro ponto: no Brasil houve um projeto de Estado de embranquecimento da população, por isso, a opção pelos imigrantes europeus. Não houve uma segregação institucionalizada como nos EUA, mas a segregação sempre foi um fato em nosso país. Algo muito forte que não ocorreu em nenhum outro lugar da diáspora negra é o mito da democracia racial, que garantiu a dominação da minoria branca, negando conflitos e diferenças, permitindo o contínuo processo de genocídio da população negra. Essas pessoas perderam, nós estamos aqui até hoje.
CH: O que a maior visibilidade na mídia do movimento Black Lives Matter pode representar para a luta antirracista no mundo e no Brasil?
KD: A imprensa brasileira cumpriu seu papel, colocando as coisas como devem ser: um homem negro foi assassinado por um policial branco, falando do racismo estrutural da sociedade estadunidense. É com muita facilidade que a grande mídia brasileira admite que o que está acontecendo lá é racismo, mas, quando se trata de Brasil, é desigualdade social, problema de ordem econômica, qualquer coisa, menos racismo. Essa dificuldade de admitir o racismo no Brasil tem a ver com a dificuldade da mídia de enfrentar o racismo dentro de suas próprias empresas. As pessoas que gerem essas empresas precisam se comprometer em combater o racismo. Porque quando você só fala do racismo na casa dos outros, não toca na sua ferida que é muito profunda. No Brasil, a cada 23 minutos, morre um jovem negro, e ocorrem manifestações contra esses assassinatos, mas repercussão na maioria das vezes não é grande e, depois, a notícia deixa de aparecer, num processo de naturalização. É importante observar que o assassinato de mulheres negras tem uma repercussão ainda menor aqui e também nos Estados Unidos.
CH: Como propor uma discussão das políticas públicas de segurança a partir de um posicionamento crítico ao genocídio de jovens negros no nosso país?
KD: É preciso que os comandos dessas instituições da lei, particularmente a Polícia Militar, que é o braço armado do Estado e que de forma mais contundente tem ceifado a vida de jovens negros, entendam que é urgente enfrentar o racismo dentro das próprias corporações. Se o Estado vivencia um racismo estrutural, obviamente, a instituição policial e a Justiça, também são racistas. A formação do soldado já tem que passar por essa perspectiva de debate, e isso precisa ser contínuo ao longo da carreira. Mas admitir que existe racismo não basta. É preciso adotar medidas concretas no sentido de enfrentar e punir pessoas que reproduzem essa prática genocida. O comando é fundamental, mas o soldado, o policial que está no contato direto com a comunidade, também precisa ser responsabilizado. No Brasil, a maioria dos policiais militares são homens negros que, muitas vezes, vieram das mesmas comunidades daqueles jovens assassinados.
CH: Além da luta antirracista, no Brasil estamos assistindo também ao crescimento de movimentos antifascistas. Como você vê a relação entre essas lutas?
KD: Não dá para ser antifascista sendo racista. Então se você é antifascista, é antirracista, mas, numa sociedade como a brasileira, que ainda tem tanta dificuldade para enfrentar a discussão sobre racismo, eu acho fundamental que a luta antirracista esteja no centro do debate, até porque como o racismo é estruturante e atinge a maior parte da população brasileira, se você mudar isso vai mexer com toda a estrutura da sociedade.
CH: De que maneira os estudos sobre escravidão e pós-abolição, que cresceram e se afirmaram nas últimas décadas, contribuíram para que fossem questionadas visões equivocadas sobre a história do Brasil?
KD: O grande diferencial desses estudos é que historiadores começam a ficar interessados pelo ponto de vista das pessoas escravizadas. E isso faz toda a diferença, porque influencia nas perguntas que os estudiosos farão à documentação. Claro que isso é uma opção teórica e metodológica, mas também é uma opção política desses historiadores, que passam a revisitar documentos e a tirar novas conclusões e interpretações. Isso começou a acontecer na década de 1980, quando o Brasil estava passando por um processo de redemocratização. Nessa época, estão acontecendo encontros nacionais de mulheres negras e o movimento negro, reorganizado a partir década de 1970, está muito mais forte. Esse debate político chega aos historiadores e repercute na produção. A partir daí, vai se ter também um outro olhar para a África, que é fundamental para pensar a sociedade brasileira.
CH: Como vê a ideia – formulada pela pedagoga Nilma Lino Gomes, mas enunciada de outras formas por outros intelectuais, como a historiadora Beatriz Nascimento – de movimento negro educador?
KD: A denúncia do racismo pelo movimento negro passa por um processo ativo, ressignificando, por exemplo, na década de 1970, o ser negro no Brasil, que era algo considerado negativo. A própria população negra foi educada para não querer ser negra, porque ninguém quer ser considerado feio, negativo, demonizado. Então, há o papel educativo da própria população negra, do ponto de vista da identidade, e também o de ensinar e refletir sobre a diáspora negra. E tem esse processo educativo para além dos grupos negros. A ideia é debater sobre racismo, a identidade negra, a formação da sociedade brasileira e a história da África em todos os espaços da sociedade. Em meu ponto de vista, essa é a perspectiva do movimento negro educador.
CH: Como a lei que torna obrigatório o ensino de cultura e história afro-brasileira nas escolas pode contribuir para esse debate?
KD: A lei é de 2003, mas sua efetivação ainda é um desafio. A proposta da lei é anterior aos anos 2000 e tem o objetivo de dar às crianças negras e não negras o acesso a informações sobre a constituição da sociedade brasileira e também a origem dessa população negra que constrói o Brasil. Isso é fundamental para a superação do racismo, porque as pessoas têm direito a conhecer a sua história. A lei, embora aprovada, tem uma dificuldade muito grande para sua efetivação. Mas, de lá para cá, houve avanços. Quando entrei na graduação na Universidade Estadual de Feira de Santana, em 2001, a disciplina História da África, hoje obrigatória, era optativa, mas todos os alunos entendiam que precisavam cursar. Percebo que há um número muito maior de pessoas interessadas em estudar a história da África, e isso é fundamental para o conteúdo chegar a crianças e adolescentes. Considerando o perfil racial da população brasileira, a África precisa ter lugar central nos programas de história.
CH: Qual a importância da política de cotas nas universidades para reforçar a luta antirracista?
KD: Primeiro é preciso falar sobre o debate feito, na primeira década nos anos 2000, em torno da política de cotas porque discutiu o racismo, talvez como nunca antes no Brasil, com a participação de todos os grupos e forças políticas. Foi uma disputa por direito à educação e a esse espaço de poder que é a universidade, que contribuiu para que nos forçássemos a pensar o país sob outras perspectivas. Naquele momento, a grande mídia e vários intelectuais se colocaram contra as ações afirmativas, mas conseguíamos algum espaço para falar. Avalio que saímos vitoriosas e vitoriosos dessa luta, mas, infelizmente, agora, em vez de avançarmos de forma mais acelerada para sofisticar e ampliar essas políticas, estamos lutando para impedir a perda desse e de outros direitos conquistados. A universidade é um espaço de construção de conhecimento científico, e isso precisa ser feito por grupos diversos. Quando os jovens negros entram na universidade, eles estão contribuindo com essa instituição, levando pensamentos de lugares diferentes. E é claro que isso vai repercutir nas políticas públicas. É importante destacar que quando o debate das ações afirmativas chega ao Brasil, de alguma forma, a conversa sobre reparação perde espaço. A reparação é um debate que precisa ser enfrentado pela sociedade brasileira, e é muito mais profundo do que políticas de ações afirmativas na educação ou nos concursos públicos. O Estado brasileiro precisa assumir que tem uma dívida com a população negra, e que essa dívida precisa ser paga.
CH: Existe “racismo acadêmico”? Como isso se manifesta?
KD: Não posso negar o racismo acadêmico. Para começar, as universidades brasileiras ainda são eurocêntricas, a referência do conhecimento científico produzido a partir da Europa ainda é algo muito forte. Por isso, eu falo da importância de pensar a África cada vez mais. Como historiadora, percebo que pesquisadores negras e negros são menos lidos. É claro que só recentemente temos um número maior de pessoas negras com acesso ao ensino superior, produzindo dissertação, tese e publicando livros. Mas, no passado, já tínhamos algumas pioneiras e pioneiros nesse espaço. E na história, pouco se lê os escritos de Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, uma referência de feminista negra para nós, Clovis Moura ou Abdias do Nascimento. É como se esses estudiosos não fossem considerados relevantes para a produção do conhecimento na academia. Isso faz parte do racismo científico e acadêmico. É uma questão de gênero, raça e classe. Como sou pesquisadora de mulheres negras, eu observo pesquisas que trazem a questão de gênero sem incluir pesquisadoras e feministas negras. Já falando em relações, eu, como historiadora negra, durante toda a minha vida educacional, enfrentei racismo dentro da universidade. Por isso, já na graduação, eu me juntei ao Núcleo de Estudantes Negras e Negros da Universidade Estadual de Feira de Santana, no qual denunciávamos o racismo e assumíamos uma postura educadora. Nenhum negro ou negra escapa de enfrentar racismo na experiência acadêmica; quanto mais retinto mais forte isso é. No caso das mulheres negras, isso se aprofunda também. É muito recorrente e forte ainda o descrédito em nossa produção. Algumas pessoas não entendiam porque eu era tão disciplinada e minuciosa com a pesquisa do doutorado. Claro que tinha a ver com minha paixão pelo tema, mas também havia o fato de eu saber que não seria só uma doutora, seria uma doutora negra. Várias outras acadêmicas negras passam por esse processo, que tem a ver com toda uma história de descrédito na nossa escrita, no que temos a dizer e em nossas potencialidades.
Valquíria Daher
Jornalista
Instituto Ciência Hoje

Vários potinhos contêm bolinhas de gude, alguns com bolinhas verdadeiras, outros com bolinhas falsas, um pouco mais pesadas. Usando lógica, aritmética e uma balança digital, descobrimos onde estão as falsas. Um exemplo simpático do que chamamos de algoritmo.
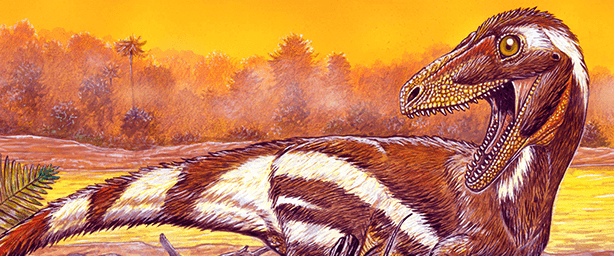
Um novo dinossauro do Brasil demonstra que um grupo de formas carnívoras, os celurossauros basais, antes restritos a América do Norte e China, eram mais diversificados do que se supunha. O exemplar estava no Museu Nacional, mas não foi afetado pelo grande incêndio de 2018.

Discussão sobre transferência dos terrenos de marinha a estados, municípios e particulares acende alerta entre ambientalistas, que apontam ameaça à preservação de ecossistemas cruciais para um mundo em emergência climática

Para psicóloga integrante da Câmara de Políticas Raciais e da Comissão de Heteroidentificação da UFRJ, Luciene Lacerda, episódios que colocaram em xeque a atuação das bancas fortalecem a certeza do quanto as políticas afirmativas para a população negra são necessárias

Pesquisador da Fiocruz e da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Julio Croda diz que, para combater as epidemias recorrentes no país, é preciso adotar rapidamente as novas tecnologias de controle do Aedes aegypti e explica a importância do início da vacinação no SUS

Para o historiador Carlos Fico, da UFRJ, o golpe de 1964, ocorrido há 60 anos, deve ser mais estudado, assim como a colaboração de civis com a ditadura e o eterno fantasma da interferência das Forças Armadas na democracia, que voltou a assombrar o país nos atos de 8/1

Diretora da Anistia Internacional Brasil (AIB), Jurema Werneck destaca que preservar as vidas e a dignidade de todas as pessoas ainda é um grande desafio, apesar dos avanços obtidos com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada em 1948
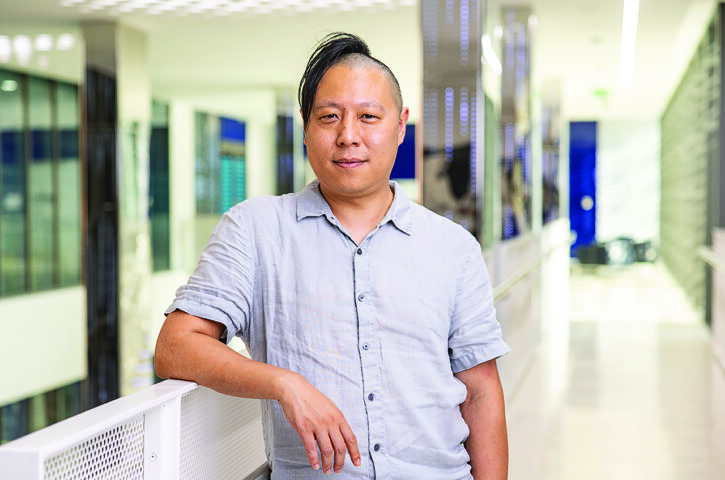
Um dos principais nomes da IA generativa, o cientista da computação Hao Li vislumbra um futuro em que a tecnologia será capaz de criar humanos digitais, reconstituir o passado e construir metrópoles em tempo real. Mas ele reconhece dilemas éticos: ‘O importante é as pessoas saberem o que é possível’

O pediatra infectologista Renato Kfouri destaca política vacinal brasileira como referência em saúde pública, mas alerta que, para seguir avançando, é preciso melhorar a comunicação com o público, a logística de postos de saúde e a capacitação de profissionais

Para Daniel Cara, professor e pesquisador da USP, reforma é descontextualizada do universo escolar e das realidades das redes públicas, busca ‘desprofissionalizar’ docentes, impõe uma educação desprovida de ciência e não proporciona o direito de escolha aos estudantes, alardeado pelos defensores do NEM

Cofundador da recém-lançada Pride in Microbiology Network, Bruno Francesco Rodrigues de Oliveira afirma que a comunidade é negligenciada nas áreas de exatas e ciências da natureza e espera que a nova rede ofereça apoio para essas pessoas enfrentarem os desafios cotidianos na academia
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
