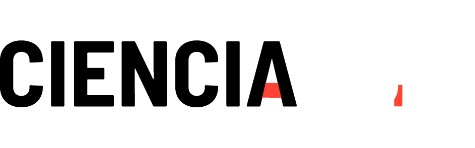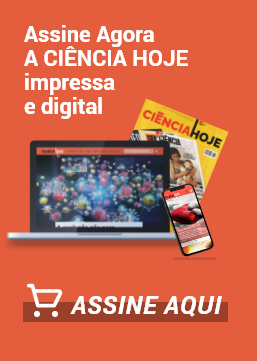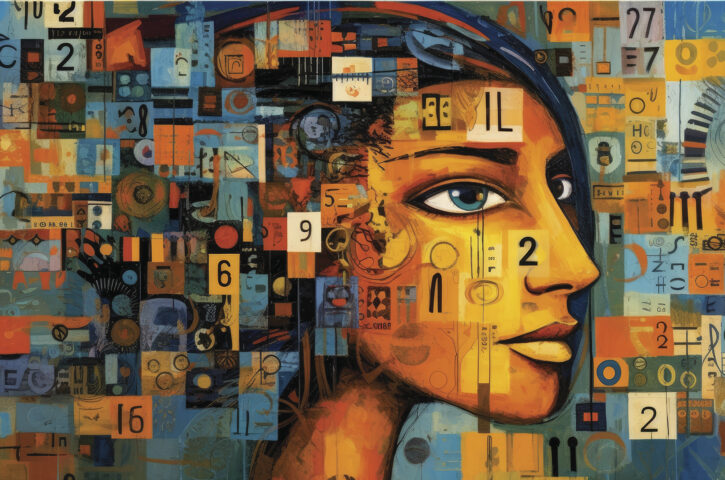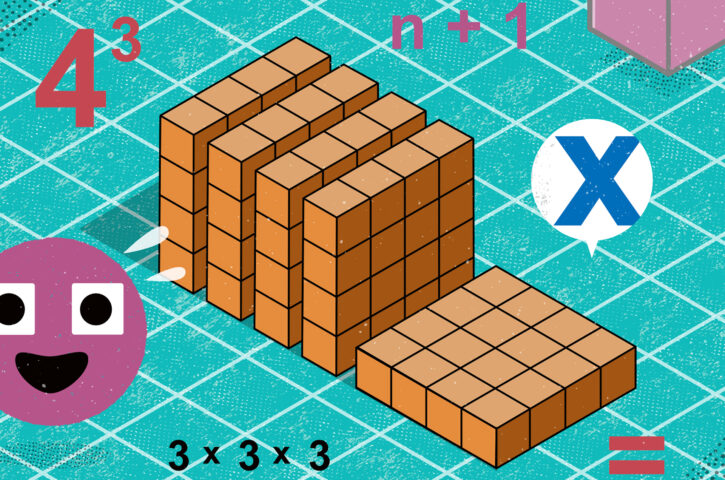Pesquisador do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Paulo Moutinho alerta para aumento de queimadas, desmatamento e grilagem nas ‘florestas públicas não destinadas’, áreas do tamanho da Espanha, de propriedade dos governos federal e estaduais, ainda sem uso definido