Neurocientista e um dos fundadores da revista Ciência Hoje, Roberto Lent reúne em novo livro as questões mais candentes sobre o cérebro humano e reflete sobre a própria história
Neurocientista e um dos fundadores da revista Ciência Hoje, Roberto Lent reúne em novo livro as questões mais candentes sobre o cérebro humano e reflete sobre a própria história
CRÉDITO: FOTO ACERVO PESSOAL ROBERTO LENT / ILUSTRAÇÕES MITTI MENDONÇA – EXTRAÍDAS DO LIVRO “EXISTO, LOGO PENSO”

Livro de divulgação científica com crônicas ou uma publicação de memórias com doses generosas de ciência? A definição fica a gosto do leitor. Mas não há dúvidas do carisma do protagonista: com evidências de pesquisas e relatos pessoais, o cérebro domina as páginas de “Existo, logo penso – Histórias de um cérebro inquieto”, o primeiro livro da Editora ICH, pertencente ao Instituto Ciência Hoje.
“Talvez algumas pessoas se interessem mais pelas crônicas de vida (“Meus amigos vão direto nelas”), outras pela parte de divulgação científica de neurociência, e haverá quem leia na ordem sequencial. Minha intenção foi entrelaçar histórias da minha vida e da minha geração, com temas da neurociência contemporânea – muitas ainda em aberto”, conta o neurocientista Roberto Lent, um dos fundadores da revista Ciência Hoje e o cérebro por trás do livro. Nesse relato múltiplo são apresentados dados instigantes sobre como, do ponto de vista do cérebro, sentimos saudades, formamos memórias, estabelecemos relações afetivas e limites, crescemos, envelhecemos e batalhamos contra a morte. Um prato cheio para leitores tão inquietos quanto o espírito do livro, que, a começar pelo título, subverte a famosa frase “penso, logo existo”, do filósofo francês René Descartes.
CIÊNCIA HOJE: Qual é a sensação de ter sido fundador da revista Ciência Hoje, que é a base da Editora ICH, cujo primeiro lançamento é justamente um livro seu?
ROBERTO LENT: Eu escrevi, no número 1 da revista Ciência Hoje, um artigo intitulado “Cem bilhões de neurônios”. Usei o mesmo título num livro. Depois, meu próprio trabalho mostrou que o titulo estava errado. Veja como é a ciência. Não são cem bilhões de neurônios, são 86 bilhões. Então, nas edições subsequentes, coloquei um ponto de interrogação no título. É o único livro didático de neurociência que tem um título com uma interrogação. Agora participo do número 1 da editora do Instituto Ciência Hoje. Não só é um orgulho como é uma revivência daquele passado glorioso.
CH: Todo cientista tem – ou deveria ter – um cérebro inquieto?
RL: Todo cientista é um pouco inquieto porque trabalha com perguntas. E, na ciência, a dúvida é mais importante do que a resposta. Claro que a resposta também é prazerosa, mas encerra um ciclo, e depois é preciso gerar outra pergunta. Existem pesquisadores que são inquietos no sentido de ir fundo numa questão e se dedicar a ela integralmente. E existem os que são transversais, coloquialmente chamados de dispersivos. Os negativistas os definem como especialistas em generalidades, e os mais otimistas como polímatas, que é um termo para as pessoas que tentam fazer pontes entre as diversas coisas que fazem, sejam perguntas científicas ou atividades de vida, mesmo. As partes do livro em que comento minhas experiências de vida remetem a essa inquietude transversal que tenho desde sempre. O título reflete esse espírito. “Existo, logo penso” brinca com a frase famosa de Descartes. Mas é uma brincadeira séria, porque contesta Descartes. Não com uma argumentação filosófica, porque não tenho essa competência. Mas acredito que pensamos porque temos um cérebro, e é dele que emerge nosso pensamento. O objetivo foi capturar o interesse das pessoas que gostam de neurociência e entendem que a neurociência é muito relevante para a compreensão do ser humano.
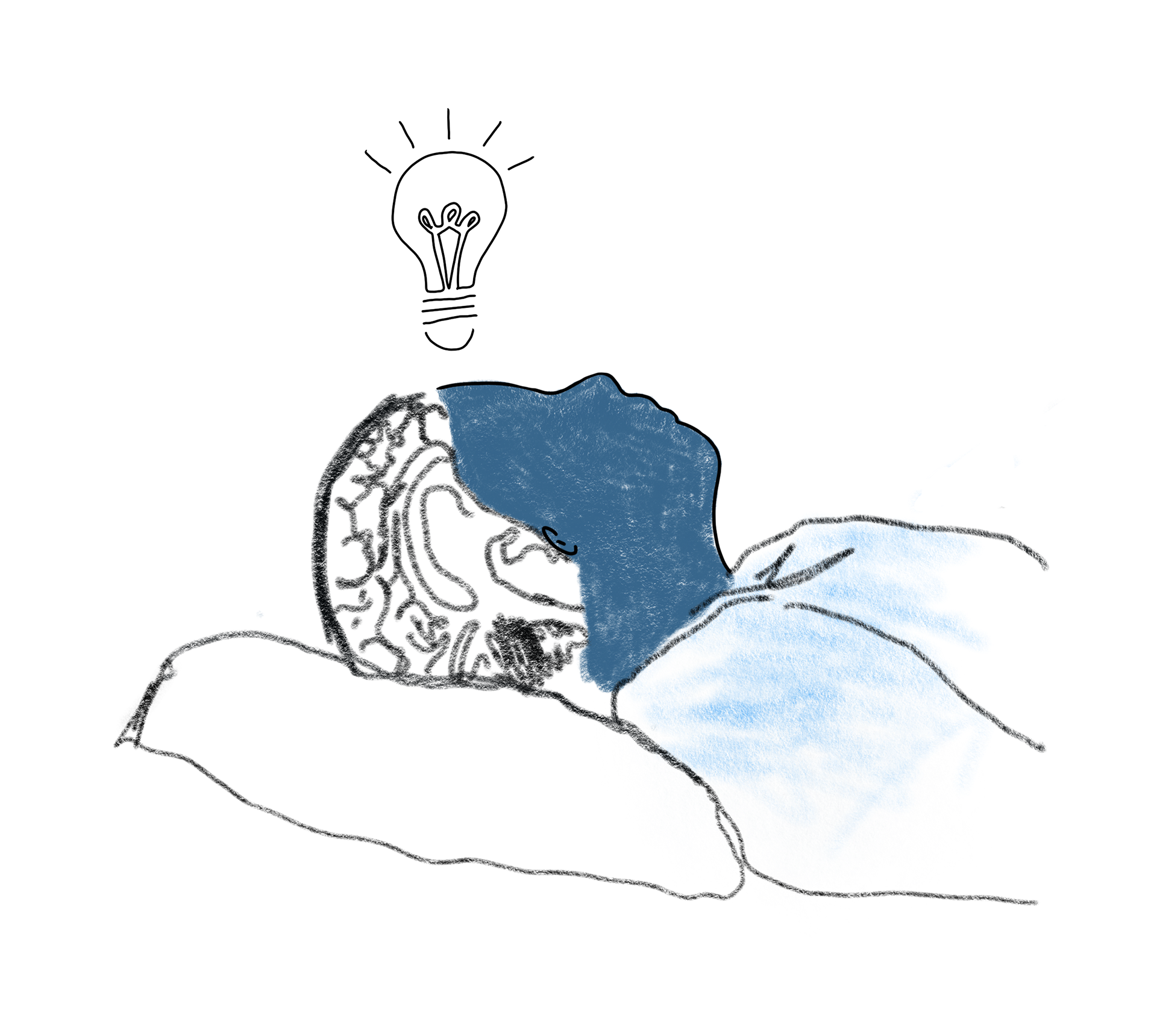
As partes do livro em que comento minhas experiências de vida remetem a essa inquietude transversal que tenho desde sempre. O título reflete esse espírito. “Existo, logo penso” brinca com a frase famosa de Descartes. Mas é uma brincadeira séria
CH: Você diz que escrever o livro produziu uma torrente de saudades. E menciona a neurociência da saudade. Em que ela consiste?
RL: A saudade é uma emoção, que pode ser positiva ou negativa. Ela pode ser estudada por métodos de neurociência e revelar um envolvimento de algumas redes cerebrais semelhantes e outras diferentes. A semelhança consiste em, de início, identificar o tipo de estímulo que provoca aquela saudade. Então pode ser a visão de uma pessoa que você conhece e tem um sentimento em relação a ela ou de uma situação de vida, um livro, um filme. Há uma entrada de informação no cérebro e ela é categorizada como boa ou ruim. E sua reação será de acordo com essa qualificação da emoção que envolve uma informação sensorial. Quando eu estava preso pela ditadura militar dos anos 1960, o sentinela ouvia aquela música “País tropical”, que o Wilson Simonal cantava. O radinho de pilha dele ficava bem perto da janela da minha cela. A música é super para cima, fala de um país abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas, quando a ouço, me incomoda. Construí uma experiencia emocional muito negativa para essa música. Do ponto de vista da neurociência, a entrada dessa informação é a mesma, a audição. Você sabe que está ouvindo uma música, lembra dela, e a compreende por meio do seu sistema neural auditivo. Mas depois, ao atribuir uma valência emocional, a informação pode ir para o lado do chamado núcleo acumbente, que trata de emoções positivas, ou para uma região chamada amígdala, que processa emoções negativas. É o meu caso com essa música. E isso acontece na vida de todas as pessoas em muitas situações. Sentir saudade pode ser bom ou ruim, dependendo das circunstâncias e da história de vida de cada um.
Sentir saudade pode ser bom ou ruim, dependendo das circunstâncias e da história de vida de cada um
CH: Como esse armazenamento de memórias funciona? Temos um limite, como um computador? E como fica essa reserva conforme envelhecemos?
RL: Não se sabe ao certo, mas algum limite existe, porque não nos lembramos de tudo. O cérebro faz uma seleção do que vale a pena lembrar e por quanto tempo. E há vários tipos de memórias. Quando você deixa o carro no estacionamento do supermercado, você só precisa guardar a posição do carro enquanto estiver lá. Já outras formas de estímulo precisam ser guardadas por mais tempo: quando estamos aprendendo alguma coisa ou quando estamos interessados em alguém e queremos nos lembrar da feição daquela pessoa ou como ela fala. Agora, se associarmos a memória do estacionamento a uma situação de força emocional grande, você vai lembrar eternamente onde estacionou o carro. Se, por exemplo, acontecer um crime na região, um acidente muito grave ou se encontrar alguém que virou seu amor pelo resto da vida naquele dia no supermercado. Você nunca mais esquece porque aquilo adquiriu um significado de vida que cravou aquela memória dentro do seu cérebro. Acontece que depois que vamos ficando velhos essa capacidade vai diminuindo, e não se sabe muito bem por quê. Se as regiões cerebrais encarregadas de fazer essa triagem se deterioram por conta da idade ou porque a capacidade é finita, como num computador, e atingimos o máximo dessa capacidade. É uma pergunta ainda em aberto.
CH: O que determina que algumas pessoas vivam décadas com a mente em plena forma e outras apresentem sintomas precoces de perdas cognitivas?
RL: É outra pergunta em aberto. Existe um conceito na psicologia que se chama reserva cognitiva e que diz que todos os seres humanos têm uma reserva da sua capacidade de conhecimento, raciocínio, inteligência etc. O problema é que não sabemos o que vem a ser isso em termos cerebrais, pois é um conceito abstrato. Será a quantidade de neurônios, que algumas pessoas têm mais e outras menos? Ou são mais ou menos circuitos cerebrais? Ou ainda o funcionamento desses circuitos, que dá uma capacidade maior de computação para uns e menos para outros? Muitos pesquisadores trabalham com essas perguntas, eu inclusive. Tenho uma teoria de que a reserva cognitiva se explica pela conectividade e plasticidade dos circuitos cerebrais. Pensando nos 86 bilhões de neurônios no cérebro humano, se cada um deles tiver 10 mil conexões e formar 10 mil circuitos, teremos algo na ordem de 860 trilhões de conexões, que, ainda por cima, são plásticas. Isso quer dizer que mudam a cada momento. Provavelmente, em função da nossa conversa e interação, as suas conexões mudaram um pouco, e as minhas também. Eu chamo essa capacidade de reserva conectômica, que tem a ver com as conexões cerebrais. Isso não tem uma comprovação ainda, é uma especulação. Mas seria uma maneira de estabelecer bases de pesquisa sobre essa tal reserva cognitiva.
CH: Então quanto mais estímulos, conversas e trocas, mais numerosa e duradoura pode ser nossa reserva cognitiva?
RL: Acredito que seja uma combinação da aprendizagem da vida, seja de experiências ou escolaridades, com a capacidade biológica do cérebro. A reserva cognitiva não é propriedade só dos mais educados no sentido formal. Uma maior capacidade de memória ou reserva cognitiva pode vir da interação desses dois fatores, a biologia mais favorável com a aprendizagem ao longo da vida.
CH: E as crianças? No livro, você lembra aspectos da infância enquanto comenta a velocidade de desenvolvimento do cérebro nos primeiros anos de vida. Como se difere o funcionamento dos cérebros de bebês e adultos?
RL: Resultados preliminares de um projeto de meu grupo de pesquisa, analisando o número de neurônios em bebês humanos, mostram que a região do cérebro encarregada da motricidade complexa, o cerebelo, tem nos bebês apenas 7% a 10% dos neurônios que vai ter na vida adulta. Isso mostra que há uma enorme taxa de proliferação de novos neurônios nessa região nos primeiros momentos da vida. Os bebês humanos nascem bem imaturos em comparação com os de outras espécies. Um cachorrinho recém-nascido já fica praticamente em pé imediatamente, enquanto no bebê humano o desenvolvimento é mais prolongado no tempo. Isso tem a ver com a complexidade atingida pelo cérebro humano e com a necessidade de socialização. O cérebro humano é menos desenvolvido quando nasce porque ele tem uma plasticidade muito grande, quer dizer, uma capacidade de ser educado e formatado ao longo do tempo. Isso obrigou a espécie humana a se congregar em famílias, que é o círculo mais proximal do bebê e onde ele começa a criar laços afetivos, até os círculos maiores, que ajudam essa plasticidade a acontecer. Essa plasticidade não desaparece completamente, mas muda ao longo do tempo. Uma pessoa jovem tem a chamada inteligência fluida, agilidade de raciocínio e capacidade de lidar com várias informações ao mesmo tempo. Uma pessoa de mais idade tem o que se chama inteligência cristalizada, que é o uso do seu rico “arquivo” de memórias. Eu, por exemplo, tenho menos fluência, rapidez e agilidade no uso desse arquivo, mas ele é maior do que o de um jovem. É a tal experiência de vida, uma forma de plasticidade que os mais velhos conservam, e que em alguns casos vai se deteriorando, mais em algumas pessoas do que em outras.

Uma pessoa jovem tem a chamada inteligência fluida, agilidade de raciocínio e capacidade de lidar com várias informações ao mesmo tempo. Uma pessoa de mais idade tem o que se chama inteligência cristalizada, que é o uso do seu rico “arquivo” de memórias
CH: É possível revelar, pelos mecanismos cerebrais, a eficácia da leitura compartilhada com as crianças e sua importância no desenvolvimento cognitivo na infância?
RL: Existem trabalhos muito interessantes que comparam a leitura compartilhada com a leitura por meio de celulares, por exemplo. E a leitura compartilhada para crianças é superior em resultados, sejam pedagógicos, afetivos ou cognitivos. Registros simultâneos da atividade cerebral e do desempenho cognitivo das crianças mostram uma oportunidade de interação muito maior do que a leitura solitária de um celular. Mas mesmo a leitura solitária de um livro é superior ao uso do celular porque ela possibilita um foco atencional maior do que a atração de ficar rolando a tela para baixo, ou para cima, num “scroll infinito”. Esses estudos mostram que o desenvolvimento da conectividade cerebral na leitura compartilhada em comparação com o celular solitário também envolve mais áreas cerebrais, estimula o raciocínio, a subjetividade e a criação intelectual. É um trabalho também bastante interessante do ponto de vista da educação, porque envolve não só mães, pais e filhos como professores com alunos e alunos com alunos. Claro que existem exceções, os celulares podem ser interativos também, mas os jogos que permitem a interação entre duas crianças raramente são jogos de leitura. Geralmente são jogos de imagens extremamente dinâmicas e aceleradas. Precisamos pensar os meios digitais de forma que permitam a pausa cognitiva, sem a pressa de pular etapas e seguir adiante e sem tempo para refletir.

Precisamos pensar os meios digitais de forma que permitam a pausa cognitiva, sem a pressa de pular etapas e seguir adiante e sem tempo para refletir
CH: Existe algum fator biológico do cérebro que determina maior inclinação ou facilidade das crianças para uma área de conhecimento? E qual é o peso do entorno neste caminho?
RL: Aí há novamente uma combinação entre a biologia do cérebro e as condições do entorno social. Uma criança pode ter grande facilidade para matemática, mas se não tiver um impulso da educação para isso, não vai adiantar nada. Já outras pessoas, mesmo expostas a um grande número de aulas de matemática, podem não ter talento nenhum para ela, como foi comigo. O social deve valorizar o que a biologia traz de favorável às pessoas. E há uma grande missão dos pais e educadores de aumentar o máximo possível a oferta de estímulos às crianças, para que elas mesmas aproveitem as inclinações e competências que a biologia lhes trouxe que devem ser exploradas na formação educacional.
CH: Quando vem a adolescência… para além das mudanças corporais, que mudanças ocorrem no cérebro e como essa fase afeta a vida adulta que chegará em seguida?
RL: Uma das propriedades cognitivas mais relevantes das pessoas adultas chama-se controle inibitório ou controle executivo, que é a capacidade de modular os comportamentos em função de contingências sociais que são aprendidas na família, na escola e assim por diante. As crianças aprendem isso gradualmente, mas os adolescentes não conseguem controlar em situações mais extremas e difíceis e por isso são mais rebeldes ou desobedientes. Crianças também podem ser, mas nos adolescentes ocorre ainda uma explosão hormonal, com mudanças corporais e afetivas importantes. A região responsável no cérebro pelo controle inibitório chama-se córtex pré-frontal, e é uma região grande, com várias sub-regiões. É a última a se desenvolver no córtex cerebral, o que ocorre lá pelos 25 anos de idade, justamente o período em que a maioria dos adolescentes começam ou terminam de aprender a controlar seus impulsos e os comportamentos mais adequados socialmente. O entorno social pode ajudar ou piorar, mas essa rebelião interna e externa é característica da adolescência, potencializada pelos hormônios e pela baixa mielinização. A mielina é um isolante das fibras nervosas que aumenta a velocidade de percurso dos impulsos nervosos. E a última parte do cérebro que se torna mielinizada é essa região pré-frontal, na adolescência, justamente. Há adultos também muito rebeldes. A situação extrema é a do psicopata, que não tem controle inibitório nenhum. E a sociedade e o entorno também podem agravar isso e expor esses comportamentos anômalos. Depende do caso, pois a variabilidade humana é enorme.
CH: A morte é um tabu em várias camadas da sociedade. Ele está também na ciência? Como a neurociência lida com isso?
RL: Em geral, as pessoas têm propensão a não gostar da morte, porque ela nos priva da vida, que, em tese, é boa. E a morte traz um elemento desconhecido, que é não saber como acontece. Temos informações de pessoas que regressam de um coma e relatam que tiveram uma sensação de morte, só que não morreram, então de fato não sabemos como é a transição final. Há ainda muita discussão sobre eutanásia e suicídio assistido. E a morte biológica do cérebro também é muito pesquisada. Antigamente o critério para definir a morte era a parada do coração. Depois verificou-se que o coração pode parar, o cérebro continuar, e o coração pode parar e voltar. Aí passou a se definir o momento da morte como um momento da morte do cérebro. Só que há evidências de que ela não é um ponto cravado no tempo, mas uma transição. Alguns trabalhos abordam isso do ponto de vista de registro cerebral, e outros do ponto de vista celular, quer dizer, o que acontece quando um neurônio vai morrendo dentro de um pedacinho de tecido cerebral. Isso se fez estudando retinas humanas doadas para analisar os processos neuronais ocorridos ali entre a vida e o apagamento completo dos neurônios. Verificou-se que, quando há um processo de morte, uma célula do sistema nervoso chamada astrócito luta contra ele. É como se fosse um recurso de socorro, só que ela luta contra isso durante mais ou menos uma hora e depois não consegue mais. E aí todo mundo morre, inclusive ela. É um estudo. Mas ainda há muito a saber sobre como se dá exatamente essa transição.
A morte traz um elemento desconhecido, que é não saber como acontece. Temos informações de pessoas que regressam de um coma e relatam que tiveram uma sensação de morte, só que não morreram, então de fato não sabemos como é a transição final
CH: Na sua visão, em que áreas a neurociência deve avançar mais nos próximos anos?
RL: Há perguntas muito candentes entre os pesquisadores. Uma delas é quando começa e quando acaba a vida da pessoa e do cérebro. Isso envolve várias questões jurídicas e determina várias práticas que podem ou não ser adotadas. Outra pergunta é como interpretamos a evolução dos processos cognitivos e emocionais das pessoas. E o que fazemos com esse conhecimento, até no sentido de influir sobre eles. Existe uma parte da neurociência que estuda o chamado neuromarketing. Trata-se de como o cérebro responde a produtos comerciais, embalagens, outdoors, logomarcas etc. Isso movimenta muitas discussões. De outro lado, está a questão educacional, que é fundamental, e a definição de como é que aprendemos. Outra questão em aberto são as tecnologias disruptivas atuais, como a inteligência artificial. Nem sabemos direito o que é inteligência, como falar que os bots são inteligentes? Eu gosto de encarar a neurociência em vários níveis de abordagem, para compreender diferentes mecanismos. É difícil dominar todos os níveis pelo grau de especialização do conhecimento atual, mas é desejável. Daria assunto para mais um livro. Quem sabe me aventuro?
Outra questão em aberto são as tecnologias disruptivas atuais, como a inteligência artificial. Nem sabemos direito o que é inteligência, como falar que os bots são inteligentes?

Um lagarto sul-americano guarda um fato peculiar: em sua fase reprodutiva, o organismo desse réptil é capaz de aumentar a geração de calor interno – fenômeno raro para um animal que depende da radiação solar como fonte de energia. Bem-vindos aos ‘mistérios’ dos teiús.

Milhares de anos depois de os ímãs terem sido descobertos, o estudo do magnetismo segue como uma das áreas mais pujantes da física. De lá para cá, novos fenômenos foram descobertos. Entre eles, um em que materiais magnéticos se comportam como líquidos.
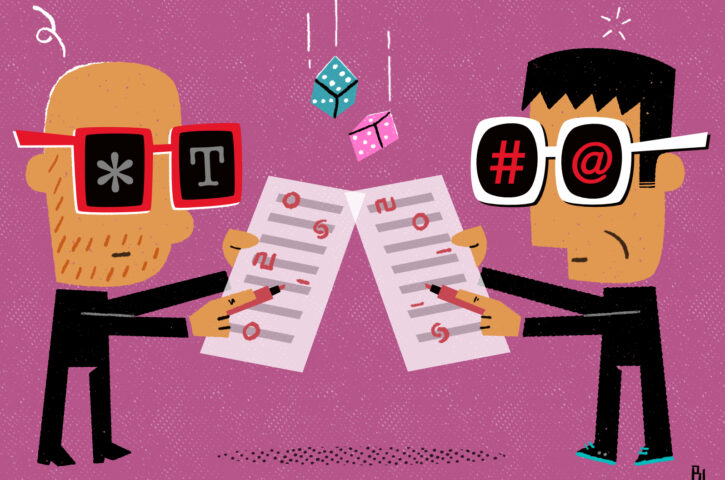
A matemática pode ser uma ferramenta útil também no mercado editorial. Nesta coluna, veremos como a teoria das probabilidades pode nos ajudar a quantificar as chances de dois revisores de uma editora, trabalhando de forma independente, encontrarem erros de digitação nas provas de um livro

Professor da USP e coordenador da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, Alexander Turra destaca a importância da proteção ao ambiente marinho para regular temperatura da Terra, promover segurança alimentar, gerar energia limpa e fomentar economia azul

Sete anos depois do incêndio, o diretor da instituição, Alexander Kellner, celebra o sucesso da reabertura temporária como um marco da reconstrução e destaca desafios: mais diálogo com a sociedade, mostras digitais, relevância para novas gerações e o recebimento de recursos prometidos

Presidente da Academia Brasileira de Ciências (ABC), a biomédica Helena Nader explica impacto de pesquisas e projetos científicos na sociedade e afirma que, da teoria à aplicabilidade, resultados demandam tempo: ‘Não é o retorno do dia seguinte’

Para a CEO da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, Ana Toni, o multilateralismo deve direcionar as negociações da cúpula marcada para novembro em Belém (PA) na busca por menos promessas e mais ações contra a crise ambiental

Pesquisador do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Paulo Moutinho alerta para aumento de queimadas, desmatamento e grilagem nas ‘florestas públicas não destinadas’, áreas do tamanho da Espanha, de propriedade dos governos federal e estaduais, ainda sem uso definido

Para Gislene Santos, professora da UFRJ e coordenadora do Grupo de Estudos em Espaço e População (GePop), política de tolerância zero nas fronteiras ditada por Donald Trump vai expor migrantes, inclusive brasileiros, a maior violência e risco

Relatório da Academia Brasileira de Ciências (ABC) dimensiona gravidade de fenômeno acentuado na pandemia e defende liderança de pesquisadores, em conjunto com educação científica e midiática, como armas cruciais de prevenção e combate.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |

Crenato
Muito bom!